



































































Por uma vez, desde que estava na política, ia falar por si, apenas por si, guiado pela sua cabeça, com o coração nas mãos, como os discursos dirigidos ao povo deveriam realmente ser.
E com coragem! Coragem, bravura, espírito de luta, sentido de estado, precisamente o que o momento exigia. O partido? O partido que se lixasse, as regras, a fidelidade, os votos, tudo isso era agora menor, irrelevante face à guerra que se travava. Temos uma longa tradição de homens lúcidos, pensou, a Renascença, o Iluminismo, as Luzes, a Civilização, a Modernidade, a própria cabeça de Maria Antonieta para demonstrar que o mundo não se compadece com meias-tintas.
Isto ia discorrendo o deputado perante o papel em branco, o mesmo em que, à medida que a caneta avançasse, fixaria para a História tamanhas resolução e clarividência. Habitualmente, escrevia as intervenções ao computador, mas agora salvar-se-ia um documento que o seu próprio punho assinaria e a posteridade guardaria.
Haveria que cuidar do estilo. Frases simples que o povo entendesse. Defender-se-ia do kitsch e da pompa pretensiosa em que tantos, por mera vaidade e falta de humildade, caem.
Após os habituais salamaleques, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, e tudo isso, falaria para os cidadãos. A primeira frase seria, portanto, “Estimado Povo Português”, tudo com maiúsculas.
Estimado? Pensando bem, talvez não fosse acertado. Demasiado distante, formal, pouco amor implícito.
“Amado Povo Português”. Hum, excessivamente próximo, piegas até, para um país como este. Os portugueses, ao contrário de outros, não andam I love you para cá, I love you, para acolá, gostam de gatinhos fofinhos mas rejeitam certas melices.
“Caro Povo Português”. Parecia bem. Valorizava, não embaratecia a gente, era uma fórmula ajustada. Não seria uma abertura extraordinária mas a parte substantiva, o sumo do discurso, viria a seguir. O sumo, a visão do estadista perante a pandemia, a salvação nacional, a humanidade contra a brutalidade da natureza, a força que dissipava o desalento, a recusa do medo, a resposta final perante o desconhecido. Ficaria assim.
A segunda frase? Obviamente “A hora é grave.” Ficava tudo dito e convocava as atenções. Nas entrelinhas, quem entendesse, perceberia que se apelava à acção, à união, à resistência, até. Mas, a hora? A hora, assim dito, poderia confundir-se com sessenta minutos e, sessenta escorreitos minutos raramente são decisivos para a História. Sugeria uma transitoriedade que retiraria ênfase ao propósito. Mas, calma!, era preciso não confundir transitoriedade imediata com derrota definitiva. Havia uma luz ao fundo do túnel, uma vitória por alcançar, uma onda de fundo por levantar. A História não guarda discursos que desdenham a esperança.
“O momento é grave”? Igualmente passageiro, vai-se a ver e psst, já era.
Escolheria entre “situação” e “circunstância”. O povo, não se cansava de o repetir aos colegas de bancada, não é burro e entenderia.
Como se estivesse no hemiciclo, declamou o que escrevera:
Caro Povo Português,
A circunstância é grave.
Nada a apontar, a prédica prometia e estava esclarecido o contexto. O contexto, essa realidade tantas vezes submetida à ideologia e aos interesses imediatos, precisamente o que o discurso obliteraria. A seguir, portanto, viria o apelo que os anais registariam. Original. Único. Citável. Apreensível pelas criancinhas nos seus bancos de escola. Sim, porque ninguém negaria que estamos perante um momento único, perdão, uma circunstância única na História. O mundo parara como não havia memória, confinara-se, fechara-se a sete chaves. Liga-se a televisão e escutamos o silêncio continental da China, entram-nos pelos olhos as ruas desertas de Madrid, testemunhamos os corredores entupidos dos hospitais nova-iorquinos, observamos os caixões amontoados em Milão e não há quem aponte uma direcção na continuação da ponta do seu dedo, não vemos um Vasco da Gama afrontar oceanos inóspitos, um Magalhães encontrando a saída num mar de dúvidas. Daí a necessidade de um discurso motivador. Daí a urgência deste discurso. E, por tudo isso, havia que prosseguir.
“Temos de nos unir” parecia perfeito. Não soava como “Temos de caminhar juntos” que apelava ao espírito de manada, “Só temos um caminho” sugeriria memórias maoístas que urgia evitar nesta hora, perdão, circunstância, “Somos uma grande Nação” seria acusado de salazarento e dividiria, “Juntos venceremos” estava fora de questão e desuniria. Nada de facilitações, portanto.
Estava o deputado perante um caminho sem saída quando lhe ocorreu que poderia continuar a frase anterior. Um ovo de Colombo que fazia sentido para aqui trazer. Não o ovo, bem entendido, mas Colombo, esse herói de quem, passados quinhentos anos, a História ainda guarda segredos e mistérios penumbrosos.
Assim sendo, teríamos:
Caro Povo Português
A Circunstância é grave, mas temos mil anos de História.
Exactamente! Camões, o próprio, talvez o dissesse com maior lirismo mas nunca com maior propriedade. Além disso, alguém teria de o vincar, os tempos não estão para líricos. Viessem de lá os grandes oradores do passado, os gregos, os troianos, os romanos, os… enfim, viesse quem pudesse contrapôr e rapidamente desistiria.
Bom, resumindo, se a hora é grave, se temos mil anos de História, a próxima frase, para ser forte, pode condensar-se numa palavra. “Sobreviveremos”.
Sobreviveremos? E os mortos? As famílias dos mortos? E a superação? A entreajuda? A solidariedade?
“Vamos resistir”. Boa, bem pensado. E, ainda assim… Resistir é passivo. É estar aqui e esperar que o inimigo tome a iniciativa.
“Vamos vencer”, aí está. Não importa que haja baixas, venha o que vier, alguém sobreviverá, alguém vencerá. Aqui estão duas palavras que sintetizam tudo, duas palavras que o futuro, por traiçoeiro que seja, jamais desmentirá. A esperança, portanto, a confiança na vitória. E isso dispensaria acrescentos inúteis, meros penachos na alocução. As questões hospitalares, o desemprego, a crise, as falências, os outros deputados que se lhes referissem. Aliás, analisando, esse tipo de referências seria depressa ultrapassado, rapidamente se veria datado e atirado para o esquecimento.
Aqui chegado, tanto havido cogitado e sopesado, nenhuma outra palavra mancharia a sua declaração. O essencial, o mais profundo, o imarcescível brilhava agora no papel, limpo, claro, sem necessidade sequer de riscos ou correcções. Um pensamento elucubrado de cabo a rabo sem que se lhe adivinhassem hesitações. Ou dúvidas. Ou incertezas. Perante isto, não fosse macular o original, assinou, pondo no acto toda a concentração.
E foi assim munido que fez o discurso que a História, em não se distraindo, preservará. Talvez não já, é sabido que a História, a que permanece, colhe olhando a partir do futuro. Levantou-se, ajeitou a gravata, apertou o botão do casaco e procurou não exagerar na entoação, não soasse a falsete. Havia algo de perverso nestes discursos de estado, o valor exacto das palavras, a densidade das ideias, o estilo, tudo com peso e medida.
Caro Povo Português,
A Circunstância é grave, mas temos mil anos de História.
Vamos vencer.
Ufa, não lhe tremera a voz, não titubeara. Não se ouviram aplausos mas os colegas estariam a digerir a profundidade da declaração e da oposição não se esperaria admiração que ultrapassasse o tacticismo. Sentava-se gozando o triunfo quando o presidente o interpelou:
– Informo-o, senhor deputado, de que ainda dispõe de três minutos e cinco segundos se pretender utilizar o seu tempo de forma útil.
* O autor não segue o Acordo Ortográfico de 1990.


A TERRA... POUCO SE IMPORTA COM AS NOSSAS TORPEZAS*
*Artigo de opinião de Adela, no âmbito COVID 19, publicado no NÓS diário (24/4/2020) da Galiza.
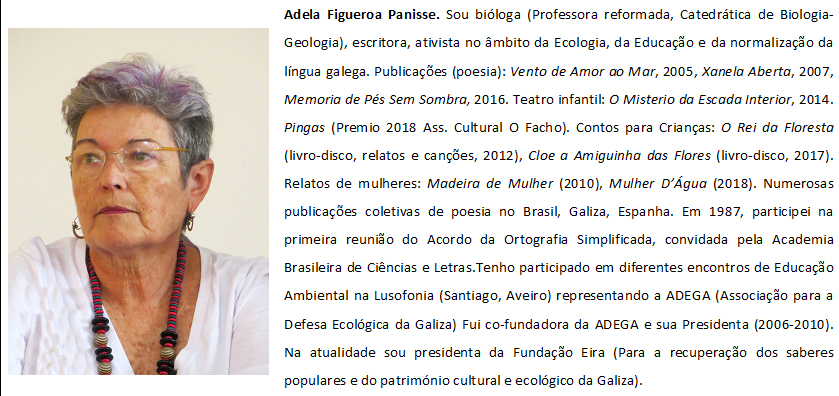
(créditos fotográficos de Anabela Carvalho)

Uma lágrima escorre do seu cabelo
Uma longa estrada polvilhada com rosas negras
Reduz a alma a pó
Minha garganta desprovida de cordas vocais
ficou presa no vento silencioso, morreu a minha alma
Quero fechar os olhos
Enterrar cada lágrima
E destruir este buquê de tristeza que afunda a beleza da aparência
rostos desfigurados tantos gritos que meu coração está sangrando,
tantos sofrimentos que
meu coração está anestesiado
A luz, a alegria nos olhos dos narizes vermelhos, os mestres das gargalhadas se foram
tornou-se cinza
Quero remover a poeira dos colares gastos de tanto tempo esperar sentado em um banco,
Risos esquecidos
Filhos sem pais
Viagens sem retorno
Famílias destruídas
Lamentável, doloroso como o adeus atrás da cortina
Para apagar essa linha desenhada, essa linha que desenha a pandemia
Uma varinha mágica para o sorriso,
Um olhar doce que pode ser a chave para uma vida
Eu quero dar esperança
Quero ver a lua cantar novamente,
Flores e paixão
Chega de estradas vazias!
Basta de anéis no caixão
Voz de amor, canção do mar
Mãe da terra e do céu
Eu imploro que a escuridão não nos engula
Meus pés estão queimando
As minhas mãos e os meus olhos imploram,
Rezam e mantêm a pedrinha verde no peito,
Anjos semeiam o mundo com a esperança
Ajoelhado no chão
Limpando as lágrimas
Com o meu cabelo
O ramo da fé vencerá
Unidos como uma árvore frutífera
Juntos seremos mais,
Humanos
Unidos de
Mãos dadas
Agasalhando
Na glória do pai
Imortal
Deseja a clareza
Ama com toda a força
Do coração
Eu me levanto.
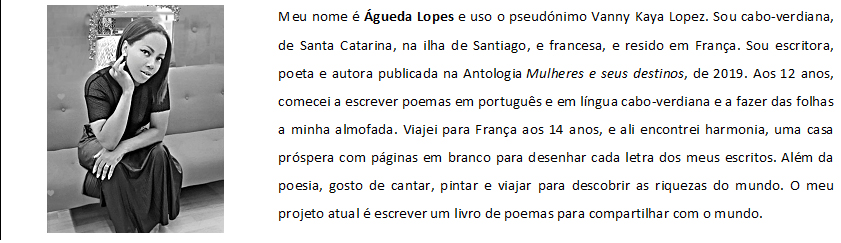

E sem me dar conta, o mundo parou
as ruas ficaram desertas e os sorrisos hibernados
escondemo-nos uns dos outros
de alma despida confinados na esperança
e nas canções de embalar perdi-me nas andanças.
E lá se foi a alegria pelas ruas abandonadas
de carros parados perante rostos incrédulos
adultos e crianças chorando por desprazer
atrelados à janela estamos em tempos de lazer
ao luar, há gente lavando as mãos, sem saber o que fazer.
Amargurados pela agonia do silêncio
inquietos pela dor do confinamento
andamos todos em abraços fictícios
quantos idosos contrariados deixados à deriva
na idade para morrer aventam os imprudentes
haverá julgamentos no forte e no firmamento.
Acabaram-se as caminhadas lado a lado
juntos estamos desassossegados e sozinhos
fugindo do Covid-19, cambaleando sobre ninhos
passos incertos em largos sorrisos perdidos por aí
no despropósito das ausências das despedidas.
E sem me dar conta,
o mundo parou na nossa presença
e não nos abraçamos olhando para a lua
embalados na rotina forçada pelo Covid-19
que a todos impôs uma surda melancolia
fugindo da rua às custas de uma simples gritaria.
Sem que me desse conta marquei pontos
para embrulhar as quarentenas vividas em sonhos
muitos deles serão deixados nos passeios
se na calçada encontrar um mendigo alheio
sonâmbulo de máscara de cores diversas
encostado a um canto pedindo pão e água.
Do pão matará a fome e o Covid-19
e da água lavará os olhos, as mãos e os ouvidos
sedentos que baste, as mesmas mãos estendidas à multidão
um suspiro ofegante rompendo a madrugada
contra o meu fôlego intermitente
assobiando de desânimo por uma mente inocente.
A mente que guia as minhas alegrias
e impede que se note que o mundo parou
perdeu o comando e as fronteiras do sossego
pelo Covid-19 que nos impôs a sua presença
rondando matreira invadindo o silêncio
deixado para trás, amarrado a um lenço.
O DINHEIRO E A PANDEMIA DO COVID-19!*
No momento em que estamos todos mais vulneráveis do que nunca, ponho-me a pensar na forma mais eficaz para combater o COVID-19 no mundo e em África em particular, por forma a evitar que o número de infectados e, consequentemente, de óbitos, continue a aumentar de forma assustadora.
Acredito plenamente que todas e quaisquer acções com o propósito de combater e vencer a Pandemia do COVID-19 no mundo deverão enquadrar-se em intervenções conjuntas que nos permitam envidar todos os esforços possíveis em primeiro lugar e, seguidamente, acções tendentes à promoção de programas educativos nas comunidades mais vulneráveis e não só espalhadas pelo mundo fora, pois a responsabilidade é comum, portanto é também nossa e, sendo nossa, temos de nos unir neste momento tão crítico das nossas vidas.
Não basta apenas o isolamento se não mudarmos os nossos hábitos, costumes e comportamentos. Estamos todos apreensivos com a situação e por isso quero aqui aproveitar para partilhar o seguinte: – acredito que a forma rápida como o COVID-19, esse tal inimigo invisível e comum, “galgou” os caminhos do mundo e tomou as direcções que bem quis e se instalou no nosso quotidiano sem pedir qualquer permissão a ninguém, deixa-me sérias e suficientes margens para uma reflexão tão cuidadosa quanto o momento bem o exige, pois defendo categoricamente que uma das melhores formas para combater o COVID-19 é, primeiramente, pararmos e repensarmos a forma como manuseamos o dinheiro no dia-a-dia, sim, o dinheiro de que todos tanto gostamos e do qual, se pudermos nunca prescindiremos, já que embora haja quem diga que o dinheiro traz felicidade, pois tal e qual o COVID-19, também circula nas nossas mãos e nas dos outros seres humanos mas não está trazendo a tal felicidade que tantos anseiam e aguardam e, presentemente, tenho a certeza de ser o maior e o mais “potente” vector do vírus que nos está a tramar a vida a uma velocidade inacreditável!
Digo que o vírus nos está a tramar pela maneira como a Pandemia se propagou, apanhando-nos desprevenidos e, como nunca é tarde, a responsabilidade de mudar urgentemente de comportamento e contrariar o quadro actual é nossa pois, como sabemos, infelizmente nem todos têm a facilidade de ter um cartão de crédito e usá-lo a seu bel-prazer, sobretudo em alguns países africanos em subdesenvolvimento, e, para além disso, nem todo o cidadão comum tem rendimentos que lhe permita ter uma conta bancária, logo, o dinheiro que neste momento é, a meu ver, o maior disseminador do vírus, continua e continuará a circular e a ser manuseado sem grandes precauções. Sabemos que em alguns países existem várias opções de transferências, como o Moneygram, o Mobile Money ou o Western Union que, de alguma forma, descartam a necessidade de contacto directo com o dinheiro em numerário.
Acerca disso, aproveito para aconselhar todo o ser humano de boa vontade a lavar o dinheiro, sim, lavar as moedas e as notas que recebam antes de o guardarem ou de o misturarem com os outros pertences que tenham nas carteiras, pois o dinheiro é, foi e sempre será o maior portador de todo o tipo de vírus e/ou de outras doenças passíveis de contágio por “andar” de mão em mão, da mais asseada à menos limpa ou suja.
Pessoalmente, já tenho agido e partilhado este ponto de vista com algumas pessoas, mesmo correndo o risco de ouvir outras exclamarem que exagero, esta é a mais pura verdade, pois desde bem antes da primeira informação sobre o vírus que mudou as nossas vidas, a nossa rotina, hábitos e costumes, quando tenho de ir ao banco, com particular realce para os nossos dias, para além de ir de máscara e de luvas, também levo um pulverizador com álcool a 70º, um par de luvas de reserva (caso se rompam ao calçá-las ou ao descalçá-las), um frasco com gel desinfectante e também levo um saco plástico onde ponho o dinheiro que recebo, pulverizo-o com álcool e só depois amarro o referido saco plástico.
Chegando a casa, depois de todas as precauções e de desinfectar tudo quanto trago da rua, depois de me descalçar e deixar os sapatos desinfectados à porta de casa e entrar (em casa), tomo um bom banho, trato da roupa com que cheguei a casa e que entretanto embrulhei num saco plástico e amarrei quando me despi e, a seguir, ocupo-me da mais dolorosa, ou seja, do dinheiro – preparando uma bacia com água e sabão (como se fosse para a loiça) e coloco na tal mistura (de água e sabão) todo o dinheiro com que cheguei a casa, deixo por 15 minutos e, sem enxaguá-lo, distribuo-o por uma outra bacia limpa e deixo secar ao ar livre de forma segura; porém, terão de ter em atenção se a qualidade das notas em uso permitem que sejam lavadas desta forma, pois as que uso não se deterioram e nem se desfazem, portanto, meto-as em água e sabão sem qualquer receio. A seguir, depois do dinheiro seco, guardo-o, lavo as bacias e desinfecto-as com álcool e recolho o dinheiro que será guardado no lugar habitual.
Para o bem de todos nós e por forma a estancarmos o vírus que continua a ter uma rapidez record na sua propagação no nosso meio, façamos bom uso das melhores práticas por forma a garantirmos a implementação das medidas necessárias e urgentes com vista a um combate eficaz e à erradicação total do COVID 19, sobretudo a nível das comunidades mais carenciadas e/ou vulneráveis, tais como os vendedores ambulantes, as quitandeiras ou bideiras, estando bem atentos à forma como guardam o dinheiro, por vezes no soutien ou segurando as notas entre os lábios enquanto, apressadas para não perderem a oportunidade de aproveitar vender mais este ou aquele artigo de forma impensada, apressada e ingénua!
Bem haja! Os Povos agradecem enormemente!
* A autora não segue o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.


Amanheceria na correria citadina
Compraria um jornal na tabacaria da esquina
Recordo-me de um dia normal
Café quente e um pastel
Sem pensar em álcool gel
Tubo, cama, ventilação
Volto à realidade
Não me pares coração!
Que culpa tenho?
Se por um momento não lembrei
Como um vírus apanhei…
Terá sido nas compras, no elevador, no autocarro?
Foi ao tocar no dinheiro ou na maçaneta?
Eu sei lá…
Ele entrou em casa, afetando a minha família
Eles aguentaram, mas eu não
Já estou como os antigos,
A pensar em superstição
Em divinos castigos
Ou numa mera maldição.
Que culpa tenho?
Ar puro da montanha
Contrasta com oxigénio hospitalar
Dificuldade em encher os meus pulmões
Via respiratória afetada
Demasiado fraco
Sobram-me recordações.
Sofre a minha árvore brônquica
Tanto quanto ou mais do que sofreram as florestas
Sem árvores, sem animais.
Já estou como os antigos,
Peço apenas por saúde numa espécie de prece.
Que culpa tenho?
Respiro mecânica ventilação
Entre paredes de concreto num hospital
Mas ainda passeio na imaginação
Entre as flores do meu quintal.
Peço que o meu sopro de vida ainda não acabe.
O invisível entrou em mim, entrou na minha casa
Na cidade também e tudo mudou.
Lembrando-me do quão frágil sou,
Fragilmente forte, parte da natureza.
Aquela que visivelmente descuidei descansa
Enquanto eu anseio por uma recuperação ou cura
Que me permita reabraçá-la.
Que culpa tenho?
Não me julgues, não me vejas diferente
Sou tão humano como tu.
Desejo que isto nem te afete
Que permaneças tranquilo no teu lar.
Enquanto isso as minhas células lutam
mas sonho que logo, logo…
Estaremos juntos nas ruas a celebrar.


Texto de Amanda Lopes (Brasil):
De repente o dia amanheceu com pressa, mas não a habitual pressa, aquela de todo dia.
Com a pressa urgente da alma, do gozar de bom espírito!
De sentir-se mais que amado, abraçado, importante nas searas do coração.
De sentir os detalhes sutis, antes nunca tão apercebidos como agora, provocando saudade!
Saudade se universalizou! Todo mundo agora sente. Todo mundo dela é um pouco carente.
Todo mundo entende o que a distância provoca, do que a presença verdadeiramente é capaz!
De repente, a privação do ir e vir.
Alguns dias parecem anos e de repente significam mais.
A rotina é devidamente colocada num posto importante.
É bandeira hasteada com mais respeito e valor.
Há quem já sofra de outras urgências, daquelas que se encontravam esquecidas.
Quem somos nós quando estamos em companhia de nós mesmos?
Os aplausos já não moram ao lado, os conselhos já não cedem colo ou ombro.
E a presença virtual antes tão corriqueira, largamente comum, agora ganha outros entendimentos, outros tons, outros tônus!
Os diálogos mudos que pairavam sobre as mesas postas...
Os almoços e jantares rodeados pelos celulares, hoje clamam por uma presença menos virtual.
Queremos o toque, o olhar, o cheiro até mesmo do silêncio, mas que provoque barulho!
O isolamento em outros tempos tão desejado por quem queria afastar-se da multidão, hoje parece brincadeira que perdeu a graça.
Um boicote natural da vida que apresenta um belo dia de chuva, de sol, convidativo a correr sem destino, abraçando o mundo todo. E agora, tudo que mais se teme, é abraçar.
Um esbarrão quase parece crime, tamanho medo que avassala.
A espera iguala quem imaginava dominar o mundo.
Nos tira a atenção única do próprio umbigo
A espera arranca os cabrestos, as manias de se perder o tempo sem tempo.
E neste agora, todos nós temos tempo para tudo, até para olhá-lo de frente!
De repente o dia provou-se inteiro. É preciso ser inteiro!
E os dias caminham enquanto todos esperam...
É hora de voltar-se para dentro para se aperceber melhor o mundo de fora!
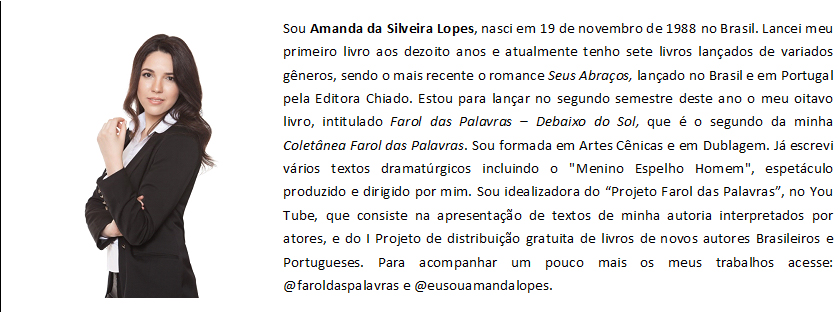

Texto de Amosse Mucavele (Moçambique):
REGISTO DAS SOMBRAS
(Cinzas sobre Coronavírus)
Ressoa em nós a anatomia da melancolia
Um nome digitado na tosse
Reveste-se de uma gota de luto
Indistinta canção
Toca por detrás do tempo
E nós com a guitarra na mão
Testemunhamos à distância sonoridades de ruínas
Hoje enegrece o encanto fúnebre
Tal como a paisagem deserta de Wuhan
Caindo em nossos olhos
Observando, enfim, a mecânica das trevas
Inflexíveis
As sombras da morte vão mastigando o mundo
Do Destino extinto pela dor ou pelo susto
Brota em nós o oásis
Esta alegoria quente
Descrita na fome da nossa ansiedade
Quem seguirá? Como salvar?
E assim
Relançamos o temor da nossa embriaguez
Cuja ressaca nasce da febre assinatura
Que se acolhe na ternura diária
A sul um coração interdito
Tem na morte muitos nomes
Ausência, dor, esperança ou invisibilidade
E quando
Subtraídos em chamas
Adormecem no meio do caminho
Que emerge do luto anterior
Onde há ausência de um abraço
O silêncio desmancha-se em mil orfandades
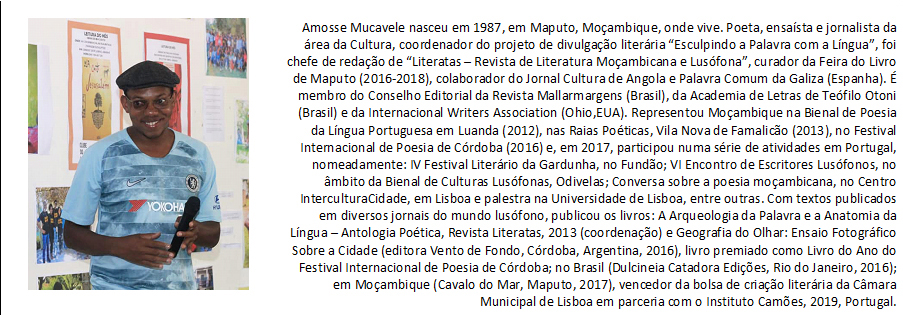

– Bom dia, melro! Estava à tua espera para o pequeno-almoço! Dormiste bem? Ouvi-te cantar de noite!...
O velho Manuel espalhou umas migalhas de bolacha no parapeito da janela e sentou-se no cadeirão a observar o melro que, de cauda empinada, o olhava de través enquanto debicava a guloseima. De quando a quando, Manuel deitava a mão ao copo de leite morno ou ao pacote de bolacha-maria que aguardavam pacientemente sobre a camilha disfarçada de mesa de refeições, ao lado de uma fotografia gasta de outros e felizes tempos enquadrada numa moldura a fingir talha dourada.
Sempre lhe agradara o cantar melodioso dos melros e desde criança se habituara a arrebanhar migalhinhas de pão para oferecer aos seus amigos emplumados; agora que se encontrava fechado em casa como um recluso, a companhia dos melros tornara-se o mais precioso dos tesouros.
Lá fora, a Primavera hesitava: soprava uma aragem fresca, encastelavam-se nuvens no céu pálido, as flores começavam a desabrochar. No jardim onde costumava deixar escoar tardes inteiras a cavaquear com os amigos ou a jogar à bisca, as mesas e os bancos continuavam vazios, envoltos em fitas vermelhas e brancas como se estivessem estragados. As ruas, igualmente desertas, à excepção de um corredor ocasional ou de um desconhecido a passear um cão. Ecoando de longe chegava o som distinto das badaladas da igreja, habitualmente abafado pelo ruído do trânsito e pelas vozes que costumavam encher de vida a cidade. A fonte do lago cantava para os patos adormecidos sobre a relva. Dir-se-ia uma cidade fantasma.
Manuel suspirou e olhou em redor. À excepção do relógio de pêndulo, cujo tiquetaquear regular continuava a marcar o ritmo da vida, o próprio quarto parecia mergulhado num sono irreal, quase moribundo. Nenhum detalhe de conforto fora descurado pelos filhos: a estante recheada de livros e filmes, a televisão orientada para a cama, meia dúzia de embalagens de pilhas sobressalentes para os vários comandos, a roupa lavada e arrumada nas prateleiras, o telemóvel carregado, a caixinha da medicação organizada, a lista de números de emergência replicada e afixada um pouco por todas as paredes, dinheiro para as encomendas do “super” e do “take-away”. Isolado havia mais de duas semanas no pequeno apartamento de segundo andar sem elevador, Manuel cumpria a quarentena que lhe fora imposta pela própria família com o argumento de que os seus oitenta e dois anos, aliados a uma vaga insuficiência cardíaca e uma bronquitezeca de velho o tornavam um alvo de excelência para o malfadado vírus.
Os três ou quatro primeiros dias, passara-os ao telemóvel a conversar com a família e a discutir a situação com os amigos da bisca que, tal como ele, permaneciam fechados em casa; com o passar do tempo, contudo, o isolamento começou a pesar e a dar frutos nefastos.
Eram os dias que não havia meio de passarem; eram as saudades da algazarra e da confusão dos bisnetos que o visitavam tarde sim, tarde não; eram os joelhos que emperravam, a coluna que dava sinal; os suspiros e os lamentos cada vez mais frequentes; era o drama do amigo Henrique, o mais idoso do grupo da bisca, cuja única visita era uma voluntária de máscara e luvas de borracha, e que por tudo e por nada desatava a chorar ao telemóvel, ora porque se esquecia do dia da semana, da hora ou da medicação, ou ainda do nome dos amigos ou de aquecer a comida, ora porque passava a vida a tropeçar nos tapetes que teimava em não enrolar e guardar…
Manuel e os outros parceiros da bisca combinaram entre si não desamparar o velho Henrique, chegando a estabelecer uma escala de telefonemas ao longo de cada dia. Por vezes era a voluntária quem atendia a chamada, o que constituía um grande alívio para os velhotes, pois sabiam que podiam contar com a ajuda da prestável senhora para organizar um pouco a vida do amigo.
Certo dia, o telemóvel de Henrique emudeceu. Talvez se tivesse esquecido de pedir à voluntária que o carregasse…
Ao cabo de dois dias de silêncio, os amigos, desesperados, ligaram para os hospitais, para a polícia… Nada! Que fazer, se Henrique não tinha, que soubessem, familiares na cidade? Ainda se algum deles se tivesse lembrado de pedir o contacto da simpática voluntária… Depois de muito matutarem no assunto, decidiram encontrar-se no jardim e tocar à campainha do amigo, que morava do outro lado do quarteirão. Com um esforço sobre-humano, Manuel pegou na bengala e lá foi descendo as escadas, sem cuidar de que teria de tornar a subi-las…
Tocaram e tocaram. Nada. A certa altura chegou uma vizinha carregada de sacos de comida, e eles desviaram-se para a deixarem entrar.
– Que fazem aqui? – perguntou a senhora. – Não sabem que deviam estar em casa? Oh! São os amigos do senhor Henrique, não é verdade? Pois… O senhor Henrique faleceu há dois dias! Ataque cardíaco, parece… Estava sozinho em casa! Quem deu o alarme foi a voluntária, que o encontrou caído na sala… Uma tristeza! Deus o tenha em descanso! Vá, vão para casa, protejam-se, que o vírus não é para brincadeiras!
A vizinha apressou-se a fechar a porta do prédio, fugindo deles como se fossem leprosos. Os três amigos entreolharam-se. O medo que se agigantava dentro do espírito de cada um, tinha uma e a mesma causa: podia vir a acontecer-lhes o mesmo…
Um bando de andorinhas cruzou os ares como uma lufada de esperança.
– Ouve lá, Zé – lembrou Manuel –, tu não tens um cão?
– Sim, tenho… Costumo pedir ao vizinho do lado que mo traga à rua…
– Pois a partir de hoje, passas tu a trazê-lo, e nós fazemos-te companhia! Eu espanto os outros cães com a bengala, e o Miguel, que tem melhores joelhos, fica encarregado de apanhar os cocós…
Satisfeitos com o plano de contingência, os três amigos abraçaram-se efusivamente e sentaram-se na beira do lago a ultimar detalhes. Aos oitenta e tal anos de vidas bem preenchidas, não seria um vírus mortífero que os obrigaria a abdicar da que talvez viesse a ser a última Primavera.
E as andorinhas continuavam a cruzar os céus.
Nelita empurrou a cadeira para junto da janela e trepou com a agilidade dos seus cinco anos para espreitar para a rua. Uma chuva fininha salpicava os vidros. Lá fora, um vento tímido agitava os ramos verdejantes da grande árvore do parque, semeando de folhinhas tenras o chão que nenhuma criança pisava. Obstinado, o baloiço embalava-se a si próprio num esforço infrutífero para despertar o escorrega e o castelinho de actividades, mergulhados havia semanas num torpor de abandono deprimente.
Mais adiante, do outro lado da rua, a vasta mancha do cemitério refugiava-se por detrás de um muro branco fechado por um imponente portão de grades pintadas de verde-escuro, vigiado do alto por duas feias gárgulas, dois dragões de pedra de cujas bocas negras escorriam delicados fios de chuva. Nelita nutria grande curiosidade por aquele imenso jardim de árvores frondosas que ensombravam uma estranha cidade de casinhas semelhantes a minúsculos palácios com pórticos de colunas trabalhadas, sem janelas nem chaminés, dispostas em quarteirões separados por canteiros de onde sobressaíam pedras brancas que decerto marcavam os limites de várias propriedades. Era ali, estava convencida, que moravam os reis e as princesas dos contos que a mãe lhe lia à noite, assistidos por uma multidão de anõezinhos jardineiros; e os dragões permaneciam vigilantes dia e noite no seu posto para impedir que alguém viesse importunar os reis e as princesas.
Nelita gostaria de pedir à mãe que a levasse a visitar as princesas, uma vez que o parque infantil estava vedado, mas o receio de irritar os dragões haveria sempre de sobrepor-se à vontade de conversar e lanchar com Rapunzel e a Bela Adormecida. Assim, a menina limitava-se a contemplar o reino encantado de trás dos vidros da janela do 4º andar…
No quarto ao lado, o irmãozito choramingou, despertado pela fome que nele era acontecimento mais pontual do que as badaladas do relógio da parede. A mãe acorreu com um biberão morninho e uma enxurrada de palavras carinhosas que não faziam mais sentido do que um arrulhar de pomba.
Nelita suspirou, fincou os cotovelos no parapeito da janela e apoiou o queixo nas mãos. Que aborrecimento, fechada em casa como se tivesse febre, sem poder jogar à apanhada nem brincar no parque com os amiguinhos da escola! Recordou com saudade a Maria, a Tété, o Tonico, a Janeca, o Luís, o Carlitos – como ela fechados em casa, resguardados de uma doença misteriosa que andava espalhada por toda a cidade, sabe-se lá se por todo o mundo… Os noticiários da televisão não falavam de outra coisa, as conversas dos pais acabavam sempre por encalhar na mesma coisa, a escola estava fechada, o café da esquina onde costumava comprar gomas com a Tété estava fechado, até a sapataria em cuja montra aguardavam as suas futuras sandálias de Verão estava fechada, nas ruas não se via quase ninguém… Parecia que, de um dia para o outro, a própria vida resolvera hibernar, como o ursinho de peluche que ela pusera a dormir no fundo de uma gaveta no início do Inverno e que em breve teria de despertar…
O pai chegou a casa, mascarado como um bandido; e antes de beijar distraidamente a família, dobrou a máscara com todos os cuidados e poisou-a na mesinha do telefone, ao lado de um frasquinho em que Nelita estava proibida de tocar e que, pelos vistos, continha um líquido mágico que substituía a água e o sabonete e espalhava pela casa um aroma adocicado.
Jantaram com a televisão ligada, como se tornara costume desde o princípio da estranha hibernação da cidade. E lá vinham outra vez as mesmas notícias, números e mais números, senhores encasacados com ar preocupado, nada de desenhos animados. Nelita ainda abriu a boca para pedir que mudassem de canal, mas o pai mandou-a calar com um gesto.
Ferida na sua sensibilidade, Nelita procurou concentrar-se na sopa para não desatar a chorar. Lembrou-se então de que faltavam poucos dias para a Páscoa… Graças a Deus! Com a Páscoa havia de chegar a avó Mila com o habitual pacotinho de amêndoas e, quem sabe, um coelhinho de peluche para fazer companhia ao ursinho… Nelita sabia que podia contar com a avó Mila para os segredos, as brincadeiras, os docinhos, a colher de mel na sopa e os miminhos; a avó Mila era uma fada disfarçada de velhinha que lia pensamentos e fazia milagres, por muito difíceis de realizar que pudessem parecer aos olhos dos pais e das pessoas crescidas em geral...
– Ainda falta muito para a avó Mila?... – Nelita lançou a pergunta para o ar.
Inexplicavelmente, a mãe levantou-se sem dizer palavra e recolheu os pratos já vazios, refugiando-se na cozinha para secar as lágrimas. O pai sentou Nelita ao colo.
– A avó Mila não vem visitar-nos este ano, filha – começou a explicar. – Está muito doente!
– Então, se calhar, podíamos ir nós visitá-la, não é verdade, paizinho?
O pai engoliu em seco e não respondeu de seguida. Levantou-se da mesa e dirigiu-se à janela. Lá fora, o crepúsculo descia sobre a cidade. Os contornos das nuvens cintilavam com os reflexos dourados emprestados pelo sol poente. Os passarinhos chilreavam à porfia nos ramos da grande árvore do jardim. As casinhas brancas e as flores do cemitério, lavadas pela chuva da tarde, destacavam-se da penumbra que se adensava.
– A avó Mila foi para o Céu, Nelita. Os anjos vieram buscá-la...
– E ela foi-se embora sem nos dizer adeus, paizinho?! – Nelita nem queria acreditar.
– Sabes, é que... os anjos estão sempre cheios de pressa! Não foi por mal, acredita!...
– E ela volta?
O pai abanou a cabeça.
– É capaz de não voltar, Nelita! Lá no Céu há muitos meninos a precisar de miminhos! Tenho a certeza de que os anjos vão pedir-lhe para ficar a tomar conta deles...
– E ela vai ter uma casinha lá no Céu? Bonita como aqueles palácios, mas maior?...
– S... sim, tenho a certeza disso! Vamos, está na hora de lavar os dentinhos e dormir!
Nessa noite, Nelita sonhou com a avó Mila sentada nos degraus de um alpendre de colunas muito brancas, a contar histórias encantadas a Rapunzel e à Bela Adormecida...
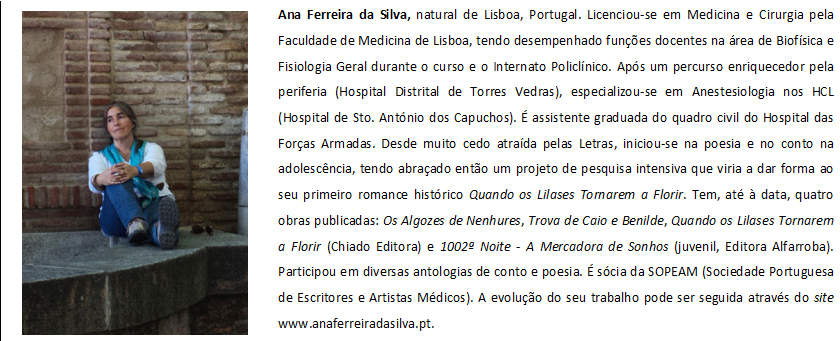

A criação que cria mais criação
A criação que queria ver espalhada
A criação de força, dá força, dá-nos forças
A criação que junta passado e futuro
A criação que não queria ver maltratada
A criação que cria homens e mulheres
A criação que queria valorizada por todos
Que queria vivida por todos. De dentro para fora
E de fora para dentro
A criação que escreve. Que pinta. Que esculpe. Que cria
No papel, na tela, na pedra. Na mente. Nas mentes.
A criação, a criatividade que nos faz ver. Mais além, qual Homero.
Que nos faz ser o que sempre fomos e o que desejamos ser.
A FÉNIX E OS TOCADORES DE LIRA
Do palácio apenas restaram as paredes exteriores enegrecidas pelas labaredas e pelo fumo denso. Do museu foram resgatados alguns objectos, testemunhos de processos evolutivos e realizações da acção humana, durante uma operação morosa e delicada que reduziu um pouco a dimensão, indubitavelmente devastadora, da tragédia anunciada. Afinal nem tudo foi reduzido a cinzas, embora a intensidade destas tenha sido causadora de um sufoco agonizante. E triste. Muito. Contudo, quebrou-se a agonia e delas nasceu uma esperança. Uma fénix renascida das cinzas? Esta ave mitológica que encerra em si uma ideia de perenidade e regeneração, o próprio mito que, à semelhança de outros, atravessa épocas e civilizações, desde o Antigo Egipto, passando pela Antiguidade Clássica, na Grécia e Roma Antigas, do Cristianismo perpetua-se pelo Renascimento, com um simbolismo de ressurreição e eternidade.
Será suficiente encararmos “o mito (o nada que é tudo”, nas palavras de Fernando Pessoa) como a regeneração necessária e o cumprimento de um destino incontornável? Creio que a dúvida será legítima. Bem como uma outra: será possível restabelecer confiança (será que alguma vez foi verdadeiramente estabelecida?) nas pessoas e nas instituições que, por incúria, por desleixo, por falta de visão e noção, deixaram que património cultural, em muitos casos único e insubstituível, fundamental na construção da Memória e na afirmação de identidade(s) ficasse reduzido a cinzas? Por um lado, a persistência e resiliência da condição humana face às adversidades e às tragédias. Por outro, um pessimismo prudente que a mesma condição humana vem proporcionar e, em simultâneo, justificar.
O Património Cultural, no seu significado mais contemporâneo e lato, gerador de uma cultura de paz e de coesão entre povos, cuja diversidade e diálogo devem ser factores de desenvolvimento, de criação e criatividade. Reduzi-los, por acção ou omissão, a cinzas é de evitar a todo o custo. A preservação, protecção, salvaguarda e valorização da herança cultural é missão de todos, uma vez que o património é de todos e para todos, o que não isenta, obviamente, de responsabilidades acrescidas aqueles que estão devidamente mandatados para tais funções.
Aqueles que, num incêndio global, como foi e ainda está a ser esta pandemia, devem ter a consciência para assumir as diversas áreas do sector cultural e criativo como uma das formas de combater as chamas e um dos rescaldos mais recomendáveis. Sem mencionar, à cabeça, as propriedades preventivas. Que as cinzas que se vão acumulando nestes meses sejam, pelo menos em parte, fertilizante para fomentar um ressurgimento, uma mudança que o mundo vem clamando. Há quem mencione uma revolta da Natureza. Outros, uma punição da Providência. Interpretações à parte, indivíduos que assumam de pleno direito a sua condição de cidadãos, seja de cada nacionalidade, seja da Europa, seja na Lusofonia, seja do mundo inteiro, que tenham condições para assumi-lo e praticar a sua cidadania activa. Com liberdade, responsabilidade, com consciencialização de si, dos seus direitos e deveres, com noção do/ e respeito pelo outro, com espírito crítico, com participação construtiva na comunidade.
Com efeito, urge mais e melhor investimento na cultura, na educação e na ciência. No combate a uma pandemia é vital, desde logo, a ciência, uma cultura científica que deve crescer e revestir-se de contornos humanistas. Sem uma interconexão entre estes três campos, tão vastos quanto fundamentais, teremos mais cinzas, daquelas inconsequentes e nada promissoras. Queremos, enquanto o incêndio lavra, ficar a assistir e dedilhar uma lira, como Nero perante Roma em chamas?
O distanciamento social preventivo deverá dar, a seu tempo, lugar a uma maior proximidade real. Se as plataformas digitais e as ferramentas virtuais foram importantes para convivermos e superarmos esta fase, se foram um suporte útil na produção e fruição culturais, em alguns casos factor de inovação, também deverão ser encaradas enquanto complementares de uma vivência presencial insubstituível. De um universo cultural que terá de ser, necessariamente, forte, sob pena de mais incêndios que, mais do que regenerar, destroem e fazem desaparecer para sempre traços de humanismo e humanidade que não devem, não podem, ser dissociados da condição humana e do seu percurso histórico.
Pessoas, indivíduos, cultos, educados e conscientes que também são cidadãos. Bons intérpretes da realidade múltipla, fluentes numa linguagem universal assente na diversidade, tocadores de lira cientes das harmonias e melodias que se articulam com os restantes elementos da orquestra, que respeitam os seus instrumentos enquanto veículos de comunicação indispensáveis. Com aplausos, se merecidos, com assobios se adequados, mas nunca assobiar para o lado, nem recusar tocar lira por acharmos que não é para nós ou por nos termos furtado a ter formação para tal ao longo da vida.
* O autor não segue o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.


Do maldito tempo, a fúria dos ventos
Atormenta o meu peito no profundo desespero
Nas noites negras de desgraça
Meu coração sangrado de dor
Alma dolente e sofredora
Mágoas e saudades, uma triste realidade
Vivemos uma tempestade
Nas noites escuras de chuvas finas
Há tanta e tanta gente que morre
O mundo está doente e triste
Hoje a luz já não existe
Será um sinal dos céus?
Será o sinal da natureza?
Será o ciclo da vida?
Será a sentença de Deus?
Sozinha com a lua, choro a triste angústia
As quedas e as dificuldades desta vida
As doenças e as sociedades destruídas
A dor do meu peito é tanta
Dor colada na minha alma
Ninguém verá a minha tristeza
Escondida por trás das máscaras
Meus olhos tristes, sem abrigo de paixão
Meu coração ferido com toda a emoção e frustração
Enfrentando as vagas e o drama de dor
Essa epidemia de terror
O demónio mais sinistro do nosso tempo
Nas profundezas pretas do coronavírus
Meus sentimentos presos no vento
Seres humanos dormindo num sonho sem fim
O cruel veneno, o infinito pesadelo
Almas carregadas pelo vento do hospital
Condenadas à amargura eterna
Os médicos podem dar a sentença da morte
Mas a vontade de viver está sempre
Por isso rezo a Deus, peço a luz
Com a fé e o amor, na luta com esperança
Peço a cura para os hospitalizados
Vou enterrar os lamentos
A dor do ferimento e saudades
Para alegrar e confortar o meu coração
Vou escrever contos da felicidade
Mergulhando nas fantasias de palavras
Com linhas de amizades
Vou pintar o mundo com meus versos
Versos coloridos, com atitude e coragem
Vou dançar nas ruas, com flores da primavera
Beijarei a terra e as estrelas
Saltarei os vales e as colinas
Gritarei bem alto com alegria
Gritos com lindas melodias
Com carinho branco da pureza
Afastarei de qualquer dor que seja
Um dia tudo será diferente
Admirarei o magnífico céu
E escutarei a cantiga da chuva
Chuva fina de felicidade
Num cântico de amor


ESPERANÇA EM TEMPOS DE PANDEMIA
Tão terrível e desolador está o quadro
Dos que salvam e dos que lutam pela vida,
Todos longe de suas famílias queridas.
A passos rápidos avança a pandemia,
A Covid, ceifando vidas, cria feridas,
O mundo está triste e em desespero,
Uma mensagem deixar aqui eu quero:
Se cada um de nós aos alertas obedecer,
Esperançosos vivamos com brio o presente,
Cada um conta, velhos e novos, somos parentes.
Andando mascarados o vírus não nos apanha,
Não ao ajuntamento com gente estranha,
Desinfetando ou lavando as mãos a toda a hora,
São medidas sábias para o vírus mandar embora.
A nossa casa em nossas escola e igreja converter,
A cesta básica, nos países ricos e pobres,
Muita miséria, muita fome e miséria descobre.
A esperança é sairmos da pandemia mais globais,
Solidários, mais realistas e mais iguais
E aprendermos quão duro é viver na pobreza,
Quando em poucas mãos está quase toda a riqueza.


A bola de cristal é opaca e preta,
nela pouco se vê ou se pressente.
O vidro estilhaçado de uma greta
libera a luz noturna do presente.
Antevejo um plantio da semente
incapaz de dar paz a este planeta,
pois você, o jasmim e a violeta
florescem contra mim feito serpente.
Enxergo nada além desse horizonte,
onde ao escuro sucede o mais escuro.
O certo é não prever nenhuma ponte
que possa me levar para o futuro.
Na bola opaca eu leio, transtornado:
seremos bem felizes no passado.
Hoje, o invisível inimigo virótico está em toda parte, especial e perigosamente no “você” de nosso contato mais próximo. O desalento nos faz ver apenas a escuridão após a escuridão, e desejamos estar vivos quando alguma luz, enfim, se acender. Cercados pelas serpentes do obscurantismo, o caminho se torna mais perigoso. E, como antídoto ao pessimismo que fecha o poema, resta-me convocar um verso de Carlos Drummond de Andrade, desejando que ele também seja profético: “Havemos de amanhecer”.


CONTAMINACIÓN AMBIENTAL*
(Poema visual)
El hombre es un depredador
que siembra en el aire.
Lenin se quejaba de los libros inútiles.
Mao los quemaba en plaza pública
y nosotros los sacralizamos con oscuras metáforas.
Los hombres se multiplicaban
como panes y los peces en la Biblia
y cada día hay menos pan y peces.
Como larvas y como marabuntas
devoramos nuestro planeta
y lo vomitamos asqueados.
Tres billones y quinientos millones es tan solo una cifra
para las abstraciones de la ONU,
para la política de insumo y consumo
para el fantasma de la renta per capita.
Confucio tuvo un hijo
plantó un árbol
y escribió un libro.
Al parecer tomaron muy en serio su parecer.
Lenin tenía razón:
los millones de ejemplares del Reader’s Digest
están desmatando nuestro planeta.
Por eso escribo en el aire
imprimo mis versos en el tiempo
como en la arena.
Este poema pasará como pasa el viento.
(Valencia, Venezuela, 01.1973)
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL
O homem é um depredador
que semeia no ar.
Lenine queixava-se dos livros inúteis.
Mao queimava-os na praça pública
e nós sacralizamo-los com escuras metáforas.
Os homens multiplicavam-se como os pães e os peixes na Bíblia
e a cada dia há menos pães e peixes.
Como larvas e como marabuntas
devoramos o nosso planeta
e vomitamo-lo, enojados.
Três bilhões e quinhentos milhões
é uma estatística para as abstrações da ONU,
para a política de insumo e consumo,
para o fantasma do PIB per capita.
Confúcio teve um filho,
plantou uma árvore e escreveu um livro.
Parece que não tomaram a sério a sua opinião.
Lenine tinha razão:
os milhões de exemplares do Reader’s Digest
estão a desflorestar o nosso planeta.
Por isso escrevo no ar
e imprimo meus versos no tempo
como na areia.
Este poema passará como passa o vento.
(Valencia, Venezuela, 1973)


LUGAR: C-19
Eu minto tanto que escrevo:
piores coisas eram de acontecer.
Vivia-se até à última,
Passámos a não ter idade para sair –
a morte no ar é uma máquina de alta
precisão
consola ver números no ecrã – quantos mais?
Eu minto tanto que digo:
nada se passa,
nós somos migalhas, membros da classe
sem classe
juntos, movemo-nos como se ela não o fosse.
Atiram as redes e ela colecciona os corpos.
Eu minto tanto que não escrevo:
também não gosto dela.
Nada há a dizer a seu favor – a sua
voz é sufocada pela máscara. A morte
tem máscara e amplifica o silêncio na terra.
Eu minto tanto que digo:
quem já chegou tem o caminho todo
pela frente
tem luvas na pontas dos olhos com que pega
no coração – era o que eu queria dizer – liquefeito
dos velhos.
Eu minto tanto que escrevo:
cada despedida é uma folha gigante de saudade.
Então o palco ocupa o mundo
o palco move-se onde secámos o leite às mães,
onde dissecamos o vírus infuso no corpo.
A morte, quando a apanhámos, aflorou-nos
de punhos engomados, no palco da história:
difícil é acreditar no grande comício invisível.
Esta não é a forma de morrer.
Eu minto: esta é a forma de morrer.
O tempo espreita, estreita dia após dia
como a cobra suspensa no rato.
De cada homem só a pele.
Onde há mulheres e homens o mundo
é de névoa.
Eu minto tanto que escrevo:
Eram poucos os caixões, uma fileira encantada.
Era o amor da morte.


Inspirar
Expirar
Dia
Acordar
Mesa
Cadeira
Comer
Tempo
Inspirar
Expirar
Sofá
Parede
Vazio
Horas
Tempo
Inspirar
Expirar
Janela
Rua
Vazio
Silêncios
Depressão
Horas
Tempo
Inspirar
Expirar
Sofá
Saudade
Tristeza
Dor
Horas
Tempo
Inspirar
Expirar
Noite
Mesa
Cadeira
Comer
Quarto
Pensamento
Horas
Tempo
Inspirar
Expirar
Insónia
Tortura
Dormir
Horas
Tempo


Retrato de um mundo desolado
Com lágrimas nos asfaltos
Nas ruas,
Monumentos,
Em todo lado
A luta contra o covid-19
A luta, na III Guerra Mundial
─ Levanta a cabeça mundo!
Brada forte o vento
Esvoaçando por todos cantos,
Desencantados e desacreditados pelos vírus
Renasça cantos com encantos
De Angola
Da Guiné-Bissau
De Cabo Verde
De Moçambique
De Portugal
─ Ao mundo!
Grita forte e a vida continua
Numa contínua luta
Ainda que lágrimas continuem a jorrar
Nos rostos, nos rastos
Nas ruas
Nos retratos
─ Levanta a cabeça mundo!
Grita a vida.
No há guerra que perdure
Não há guerra que não se supere
Se a pandemia ataca pelos ares
Mundo ataca com amores
Amores espalhados
Criando vagas
Como ondas dos mares
Como marés de amores
Agora com máscaras…
─ Venceremos!
A guerra contra o óbice e sórdido Covid-19.
Os versos unem-se numa luta universal. Unir versos, pode até certo ponto, desafogar tensões existentes no mundo afectado pela III Guerra mundial (como eu considero), e os desafios do novo normal. E é nas lágrimas esparsas por todos edifícios, casas e ruas de todas as cidades do mundo, afectadas pela nefasta pandemia, que vozes se reergueram, mais fortes do que nunca, para pintar essa nova fase, com tintas coloridas de esperança e certezas. O que o mundo precisa é maré de amores, que devastam costas de todos os continentes, limpando todos os males e receios. Não um dilúvio extintor, como do Noé, que varre homens e traz dor e bandeiras a meia-haste. Essas ondas de amores devem ser revestidas de sais de solidariedade. Salgar o mundo com amor. Doar-se em prol dos mais desfavorecidos será sem dúvida a melhor maneira de amortecer o impacto das crises financeiras, consequência do stop que o vírus deu ao mundo, levando ao confinamento, e lavando as contas bancárias dos governos com despesas imprevistas.
O molde que se deve seguir é o do camponês agricultor, lá no quimbo , que pondera, com as mãos trémulas, abandonar o cultivo. Não há lucros imediatos. As empresas escoadoras dos produtos do cultivo também estavam bloqueadas, como medida de segurança pública. Mas o velho sabe que parar não é opção. Já enfrentou o conflito civil de Angola, já enfrentara períodos de fome. Cultivar vai permitir que os alimentos básicos do campo cheguem às famílias. Nem que seja da sua aldeia e das aldeias vizinhas. Por isso o velho levanta todas as manhãs, antes dos raios do sol, e vai cultivar.
No reerguer do camponês está o ganho. Com seu gesto vai ajudar uma aldeia. É esse espírito do agricultor, o espírito de entreajuda que vai fazer Angola e o mundo regressar aos poucos com marés de amores que vão tapar os focos crescentes da crise da III Guerra mundial, em que as classes médias são engolidas nos nevoeiros dos problemas financeiros, dos disparar dos preços dos bens, e dos crescentes desempregos.
Por isso, no final da tarde, o agricultor no quimbo, ouvindo o som dos ngoma que voltaram a solar , sorri de alegria, com os dentes amarelados com a luz da labareda em baixo do imbondeiro, com esperança que coisas melhores virão. Pena é que os abraços vão continuar nas cadeias das vontades, esperando o mandato de soltura, vindo de ventos fortes de lutas científicas. Mas o velho agricultor sorri mesmo assim, com vontade de unir versos para trazerem um mundo melhor.
No raiar do quimbo
O campo desperto para o mundo
As mãos trémulas do camponês, lá do quimbo
Do quimbo distante.
Traz palavras de esperança
Das lavras cultivadas
Esperanças avivadas
Com enxadas de palavras sem pandemias
No negrume das noites arquivadas
Recordações de vários amplexos recebidos
Dos seus netos, da sua aldeia
E a lágrima cai
Cai no Pim,
Pim
Pim
Pim
Limpando tristeza,
Pois agora, a certeza rasga a cidade
Com rios, com correntes solidárias
Com ricos partilhando
ONG’s de feliz cidade diárias
Com riscos enredados com medidas
Alerta cidade
Alerta mundo
Máscaras desmascarando fragilidades
Em casa, o idoso preserva a idade
Na rua, nos largos, velho monumento
Vaidades encostadas por enquanto
No entanto,
Os anjos da terra
Sô doutor, senhor médico
Na frente de combate ao Covid-19
Com auxílio eclético
Com asas quiméricas
E milagres de salvação.
E nas ruas tristes
Canções alegres
Nos Palácios
Planos de contingência
E o poeta
Animando com versos
Ver só
O verso viajando
Por clicks distantes
Agitando as ondas do amar
Vagas e maremotos
Só o verso
Solidário com todos
Todos nós, ó mundo
Ansiosos por derrotar a pandemia
Mas só tempo tem tempo
Traz tempo a vacina
Trás tempo o mundo em cima
De Angola, meu quimbo
O camponês, o velho, ensina:
─ Meu neto. Saiba ajudar.
Com esse pequeno gesto
Mundo transforma
É a melhor forma de abraçar.


Texto de Concha Rousia (Galiza):
CHAVES MÁGICAS
Um ensaio poético
“Educar a mente sem educar o coração não é educação”. Ecoando em vão desde há mais de 2000 anos nos nossos pouco atentos ouvidos, as palavras de Aristóteles. Os seres humanos a diferença dos outros animais, levamos um pensante incorporado. O nosso super desenvolvido córtex cerebral permite razoar, poderar e avaliar toda a situação.
Ora bem, que tenhamos esse fantástico equipamento cerebral não significa que tenhamos menos no nosso cérebro meio, no nosso sistema límbico, nem que portanto, nós, animais racionais, devamos ignorar essa parte do nosso cérebro, e cultivar apenas os extensos territórios do córtex. Como temos também um cérebro reptiliano, mas esse vai encriptado na base do cérebro não permitindo aceso verdadeiramente a ele com a nossa consciência. Ele, permanentemente escaneando o mundo à nossa volta, actua para salvar a vida ante todo perigo descoberto, ou perigo percebido, embora não sexa real.
A dia de hoje nas nossas sociedades continuamos a produzir imenso número de analfabetos emocionais, por priorizar, quase em exclusiva, a educação intelectual da mente e deixar sem atenção o vasto território das emoções, permitindo crescer qualquer cousa que decida nascer nesse pouco accessível território, como é a nossa mente emocional. A pessoa se passa depois a vida tentando conviver com aquele mato do que não gosta ou mesmo desgosta, ou teme até.
É por isso que as pessoas necessitam da arte, porque a vida, como afirma o poeta Ferreira Gullar: a vida não basta. A arte, a literatura, vem atrás da gente cuidando, costurando os rotos que o viver nos deixa dentro. Ali onde a razão não alcança com o olhar, ali a poesia entra a fazer a sua cirurgia. Por vezes será na arte da psicoterapia, mas nem sempre é requerido um técnico. A literatura, e a Arte em geral, consegue abrir as portas da nossa mente emocional, as portas do nosso coração.
E se isso é verdade para a nossa vida cotidiana, o que não será quando nos vemos ameazados por uma pandemia do tamanho da Covid-19? Quando o nosso reptiliano se superactiva pola percepção de perigo constante, e a nossa mente emocional se faz gigante ativando todo tipo de alarmes. Neste caso a pessoa integrada, a pessoa com educação emocional, a pessoa que sabe como regular o que sente, fica em ótimas condições para agir. Mas a pessoa que não tem prática em apaciguar-se, sosegar-se, e conduzir-se enquanto o nosso pensante toma decisões, essa pessoa reage, sem control real do que faz. Aí a nossa habitual lagartija se converte em crocodilo a se coaligar com a nossa parte emocional, hiper-reagindo e bloqueando o córtex. Só vemos o que fizemos realmente quando já não tem remédio.
É claro que as catastrofes, as pandémias, passam deixando um rasto enorme de catastrofes internas, durante as quais não apenas deixamos crescer de tudo salvagemente no terreno das emoções, mas alguns plantaram nele eucaliptos, ou ervas ainda mais venenossas. Muitos ficarão lá presos nesses anti-jardins culpando os Billgates, os Chineses, os governos de esquerdas ou de direitas ou as vacinas inexistentes…
A maioria das pessoas saem da pandemia, logo de serem curtidos pelo medo, o estresse, a ansiedade, com a vida um bocado arrasada. Algumas pessoas nunca poderão extirpar completamente a toxicidade, carregando muito sofremento emocional, muito sofremento psicológico, que tingirá as salas da vida. Agora estamos na hora curar as feridas e renascermos, e como a Amalia Correia nos avisou, não poderemos nascer sem sentir as próprias dores. É hora de abrir as portas do emocional e deixar-se sentir… Mas as portas podem ficar fechadas. Por vezes essas portas foram trancadas sem consciência do fato, e intencionadamente não conseguimos mais abrir.
Devemos buscar chaves mestras porque sabemos que levamos dentro cousas que queremos tirar para fora, cousas que devemos despedir, e vamos ter que pedir à nossa psicóloga ajuda no fabrico dessa chave à medida para nós. E podemos também tentar com as chaves mágicas da poesia. Pois como bem disse o próprio Freud: “em todo o lugar a que vou, descubro que um poeta esteve lá antes de mim”. Freud usou “poeta” em sentido mais amplo, que incluía também a ficção em prosa.
A literatura tem a capacidade de surfar sobre as ondas da razão sem afundir-se nelas, chegar lá ao meio e meio do mar dos saberes ocultos. Ahá! Aí vemos o que não vemos. Abrimos janelas e portas a emoções aparentemente insondáveis, submarinos deixados atrás após o final da batalha. Magicamente abrimos: choramos, rimos, soltamos as pedras que tanto nos pessam, o irmão que não pudemos abraçar durante a doença, a avó que não pudemos visitar por tanto tempo, o pai vivendo sozinho, a tia que partiu sem despedida mesmo… e mais além, muito mais além. Vamos necessitar muita poesia, muita música, muita arte que entre em nós e exploda dentro suas artes, ou então que nasça dentro e saia transformando escuras crisálidas em borboletas de brilhantes cores a avivar as nossas vidas de novo.


Texto de Delmar Maia Gonçalves (Moçambique):
I
As sombras
retomam o lugar
que nunca foi seu
onde as brasas são chão
e a serenidade
se evola
num arco de relevos.
II
No princípio
era a luz
Inundou-se o chão
de musgo bom
Apaguei-me então
na reclusão do silêncio
para dar voz
aos falsos magos
Depois vieram
as trevas
e a terra orou em estilhaços
E eu que me
havia aniquilado
renasci das cinzas
num corpo inóspito
decidindo acordar
do sono anterior a mim!
III
Longe de mim
impor a minha luz
Há um sono colectivo
com sombras cinzentas
a que me oponho
Por isso convoco
as luas antigas
as fogueiras ancestrais
e reivindico a estrela polar
para a apoteose
da salvação.
* O Autor não segue a grafia do Novo Acordo Ortográfico de 1990.


NÃO SEI SE MORRO DE COVID-19 OU MORRO À FOME
Viver numa sociedade em que não se vive mas sim se sobrevive, nunca foi fácil, e hoje torna-se mais difícil ainda.
Em meio ao caos em que nos encontramos, foi-me dito para ficar em casa, sim, me foi dito que seria seguro para mim, juntamente com a minha família .
Sinceramente, tenho muita vontade de ficar, mas o meu estômago e as lágrimas de fome que escorrem no rosto do meu filho zezinho não me permitem.
Sou mãe solteira de 5 filhos.
Até que consegui cumprir com a quarentena durante 3 dias, foi o tempo máximo.
Disseram-me para usar água, sabão e máscara, mas não tenho dinheiro para comprar, apenas tenho cinza e uma máscara feita de tecido da minha capulana.
Não tenho televisão, internet, luz, muito menos água canalizada.
Junto os meus 5 filhos no meio da esteira, e conto histórias da minha infância, mas sou mãe e tenho todo o amor e calor para dar aos meus e, apesar das dificuldades, me torno uma mãe melhor, a covid-19 permite que a minha família esteja mais unida, volto mais cedo do mercado aonde tiro o meu ganha pão, abraço e dou beijinhos a eles e sem esquecer de agradecer ao universo por mais um dia.
Sim, essa sou eu, uma mãe solteira lutando para sobreviver apesar das lutas, mas não deixo de sonhar com pão a mesa à matina, e sem dúvidas de que amanhã quando tudo isto acabar o sol voltará a brilhar.
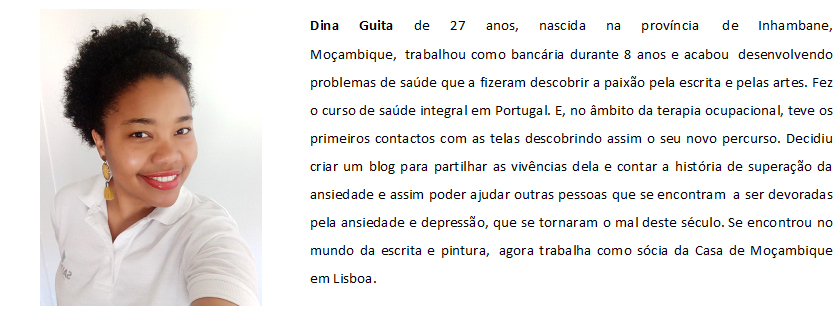

Antes do ano zero, alguém disse que viria como ladrão... Talvez seja ele, o vírus palpitante do século XXI. Se refletirmos bem, naquele tempo, os Sacerdotes, Profetas, Reis e seres destinados falavam com ele e tinham privilégio de vencer as guerras através dele. Se lermos bem aquele livro pouco lido pelos muçulmanos constataremos que, depois do ano zero, o privilégio de falar com ele pereceu. Até Vossa Santidade, que vive lá no Estado-embrião da Itália não tem poder de falar com ele? Só ora tanto, beijando o metatarso da estátua que simboliza a salvação, mas não recebe mensagem depois da oração, nem luzes, nem nada, assim como José, o bisneto de Abraão, recebia, pelo menos por meio do sono, salvando o povo Africano e do mundo por causa da fartura produzida para rematar a fome, durante 7 anos.
Meus queridos e imperfeitos irmãos do templo capitalista, o meu evangelho é mais propagável que a pandemia do coronavírus – Amém! Meus irmãos! Saibam que nós vivemos num tempo diferente daquele, nós pensamos que vivemos, nós não vivemos, nós tentamos brincar de viver. Decerto os que viveram já não existem, pois tinham o privilégio de falar com o autor do céu e a terra, ou seja, o ser que nos fez para viver e, quiçá, morrer, mas o primeiro a morrer não pereceu com vírus. Segundo algumas interpretações ficcionais do livro em que transparece o surgimento de apocalipses, foi alvejado com faca pelo seu irmão, o livro só diz que foi alvejado e revela o primeiro homem que partiu desta terra que já se cansou de nos ver a viver.
Esse vírus que chamamos covid-19 não é um mero poema com quiméricas palavras e métricas que limitam os versos, é uma realidade palpitante e (in)questionável, porque está bem nos olhos sistémicos do universo, ceifando sexos e os sexos que comiam sexos, ceifando a desigualdade, ressuscitando a igualdade entre os sexos grandes e pequenos que, através da covid-19, sujeitam-se a ficar na uretra, fechando o furo que extrai águas oceânicas... Assim é complicado, a vida que pensamos que vivemos dá muitas voltas e cada volta palpita-nos diferentes formas de viver.
Temos que dar razão ao segundo parágrafo, a nossa forma de viver é esotérica, só um ser compreende-nos porque somos obra dele, nós pensamos que nos compreendemos, nós pensamos que este planeta ainda nos quer vivos mas, para mim, depois do ano zero, o melhor seria vivermos num outro planeta, porque a terra que nos traz é a terra que nos leva. Estamos apavorados e a verdade deve ser dita neste templo, esse vírus tem dono, se não é o autor do céu e a terra, é um dentre nós, seres que pensamos que vivemos, é só olharmos bem atrás dos tempos, veremos que através da ira do pai, o pai castiga, o pai toma as medidas coercivas, não importa se és mandachuva ou mandatário ungido por ele e pelos votos eleitorais, o destino é a terra, porque da terra viemos e somente viverá quem mais crer do que despender dinheiro no templo.
Meus irmãos, eu não sou o Martinho, que revelou os padres que se masturbavam no templo, somente saibam que é a vida assim-assim, é como a política, morre no fim do mandato, mas há mandatos que morrem no meio do mandato, como também há humanos que ceifam no meio da eternidade sem chegar o destino da morte – quem conhece o destino da morte? Ninguém, senão o pai, o único que sabe a origem do vírus e que dará sabedoria a um ser para descobrir a vacina, que só será descoberta depois de matar milhões, sim, a vacina ou um exato medicamento para velozmente curar os propagados, só vai aparecer depois de morrerem milhões e bilhões. Alguns políticos que vocês costumam ver e acreditar, são os protagonistas das mortes e são mais que o vírus que nos fecha na casca sem a banana, a inabilidade deles ceifa e gera lobos que ceifam lobos, são capazes de construír em cima do mar uma cidade só para as famílias deles, eles são como eu, sem vocês não vivemos.
Irmãos! Todos que estão aqui no templo são lobos, pagam dízimos e contribuem para eu ficar rico, evitem dar-me o que não têm e creiam somente na palavra. Pois o dinheiro que vocês sacrificam para o templo tem sido um meio que me enriquece, e por causa de vocês, sou o mais rico do país. Isso é pecado, irmãos! Talvez deva ser por causa dos pastores e políticos que estamos a morrer.
Meus irmãos! a missa acabou, como sabem, a porta do templo é a interpretação, não saiam do templo conforme entraram, acreditem, nós não vivemos, nós brincamos de viver. Essa nossa vida que está ser levada pelo coronavírus é uma vida que não vale nada, a pessoa ou ser que produziu a covid-19 não ama a vida, não quer nos ver a viver, odeia-nos, anda irado e está a vingar-se, ele pode ser o ladrão que disse que viria como ladrão, mas se for mesmo ele, então, que me perdoe, mas entender-me-á, porque também lhe entendo. Pois sei a dimensão da ira dele, sei como ele é tão bom, como também sei como ele é, quando está nervoso, ele ama e desama. Quando desama, o mundo testemunha que sanciona moralmente, religiosamente e coercivamente. É só imaginarem o que aconteceu no dilúvio e os efeitos do poder que deu a José, Moisés, Davi, Sansão e ao filho mais poderoso do mundo que disse que viria como ladrão. Como é óbvio, o ladrão pode não ser o descendente de Davi, entre nós há muitos ladrões, o ladrão pode ser um terrorista bioquímico, um produtor de vírus fulminante, palpitante, fulo, esquálido e impiedoso como o coronavírus, que está comer até o sexo dos políticos e pastores utópicos deste planeta cansado.
Venerados irmãos! Vamos continuar a missa no outro dia, obrigado por me darem a vossa máxima atenção, somente saibam que este evangelho é palpitante. Portanto, já que estamos fechados em casa, podem depositar o dinheiro no Banco, mas saibam que o vosso dinheiro enriquece-me, por causa do vosso dinheiro na minha casa não falta pão, meu trabalho é falar-vos o que vocês também podem falar, é só lerem aquele livro pouco lido pelos muçulmanos e xinguilarem, verão que aldrabar-vos que curamos por meio de milagres é muito fácil [...].
O pastor não terminou de falar, uma irmã levantou-se para o ofender:
– Pastor! Você é um caralho! Se o templo cura doenças, por que não cura o coronavírus? Só esses burros é que vão depositar dinheiro no banco! Esquece-me, seu aldrabão, vou comprar comida para os meus filhos e partirei para o outro templo [...].
– Queridos irmãos, a vossa irmã tem razão, os pastores de hoje não curam doenças e alguns não são sérios, desculpem-me pela ousadia, mas é só para palpitar [...].


Um pensamento e um poema em tempos de pandemia:
QUE MUNDO VIRÁ?
No jardim do largo
frente à minha casa
demasiado largo se tornou o silêncio
Tão largo silêncio
que já nem dá para ver os extremos da vida:
crianças e velhos
Estarão numa quarentena de metros
no fundo de um virulento lago
sem resposta ainda
à mesma questão?
Que mundo virá?
Igual, pior, melhor?
Mais que o silêncio
me importa a resposta


TOTENTANZ
Acontece, por vezes. O mundo derruba-se arredor, a morte reina e tudo traslouca na baila. Tal e como na história, nas gestas, nos romances e nos filmes de sci-fi ou de catástrofes. É cíclico, dizque. Sempre vai sucedendo ante os olhos. Passo a passo. Mas eclode de jeito inesperado. Nunca estamos preparados quando chega. Nem mesmo que tenhamos por motto em brasão ou num poster mindfulness, zen na parede da cozinha.
O pessoal no comando é incapaz de deduzir corretamente as advertências, sinais e indicadores de contexto. Nunca atende vozes agoireiras, confia em aduladores e conselhos mais otimistas, sopesando numa mão o bolso próprio, noutra as perdas em vidas humanas alheias, em que tudo passará ligeiro e sem consequência.
A prevenção é cara, as gentes críticas incomodam e a saúde pública, o investimento social e a educação nunca resultam baratas; mas mais custoso é, quando toca, o remédio e as soluções. Quem não atende e corre à pingueira lamenta e chora a casa inteira. Infelizmente, deixa-se à sorte, o que virá mau será; o ouro sempre pesa mais antes, e cega a razão o seu deslumbre.
Os poderosos, considerando-se infalíveis por terem alcançado dacavalo dos acasos os altos poleiros nos que assentam, nunca pensam que as ondas chegarão até a porta das suas casas. Em consequência contemplamos a dança da morte em plena espiral enlouquecida: ouvimos os prantos e as lamentações muito antes do pessoal compreendermos ou reagirmos.
É curioso como o mundo que enxergamos hoje corre uma e outra na mesma trama. Trilhando caminho a Sísifo, récuas de líderes ineptos, figurões solenes ou esperpénticos, como adoito dirigindo; conduzidos por doutores indoutos, e assessorados em todos e cada um dos postos principais e secundários de mediocres e miseráveis. Gentes sem sentido, nem lógica, ou escrúpulos, sem capacidade crítica, com nenhuma empatia e com menos imaginação, cheios de soberba, sempre à moda, gerindo o desconcerto habitual do mundo para próprio benefício.
Agora, resulta interessante comprovarmos como os que não são quem de gerirem ou deixarem obra pública eficaz para gerações construída, nos tempos bons haviam fazer nas más. Contemplamos o K.O. ao vivo dos grandes dignitários do momento, dignos sucessores de largas gerações de imprudentes; verificamos o sorpasso pela realidade dos políticos e líderes de programa, aparato e marketing; e constatamos a fragilidade das grandes metrópoles e do modelo habitacional e de consumo promovido. O grande capitalismo em batamanta, atento os mass média por eles configurados bopassa(1) na espera agitada de que os seus números e apostas caiam no bingo da grande bolsa. Os académicos, intelectuais e agentes comunicativos queimam tempo em roupa de treino fazendo de eco das consignas e palavras de ordem; aplaudindo a raivar como torcidas as fantasias ideológicas dos grupos que os seguem. E a gente, reaprendendo a fazer pão na casa, tele-interatuando e pensando já com medo quem vai pagar as faturas, atrapalhada numa festa amarga de pijamas.
Um presente “sobrevindo” de tragédias “inimagináveis”, um futuro de misérias “inevitáveis” e mudanças “obrigadas”, construído, tijolo a tijolo com a argamassa das inúmeras vozes críticas feitas cal e tanta champanha consumida por guieiros a la Churchill, sobre passados imediatos de imprevistos, de presentes a fantasiar com retórica das soluções improvisadas e de futuros a servir como propaganda as arroutadas(2) como heroísmos.
Leio July 1914 de Emil Ludwig, numa bela edição inglesa (London, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1929), ilustrada com fotografias dos principais protagonistas, qualidade de papel e elegante tipografia de entre guerras. “Um estúdio(3) – como salienta mais ou menos a publicidade impressa que acompanha e anuncia também All quiet on the Western front(4) de Remarke – da estupidez dos homens que eram todo-poderosos em 1914 e o instinto certo daqueles que naquele tempo estavam nas margens”.
A trepidante narrativa cronológica daqueles poucos dias, descreve as principais personagens, recria os feitos e os momentos decisivos justo antes, durante e depois do assassinato em Sarajevo que arrastará, contra o protesto dos povos e das massas, numa borracheira de diplomacia, maus entendidos, alianças, cheques em branco, orgulho aristocrático desfasado, propaganda patriótica, colaboração de intelectuais e da imprensa à serviço de umas classes dirigentes apenas atentas a conservação dos seus privilégios e carreiras individuais, desprezo absoluto pelas massas, liderados pessoais, obcecação no presente, grandes negócios de uns poucos, velhas tensões territoriais e revanches seculares, Ocidente num massacre de dimensões devastadoras e de consequências globais.
Enfim, quem contava…
(2) Arroutadas – Impulsos arrebatados, coléricos.
(3) Estudo
(4) Obra de Erich Maria Remarque, publicado em Portugal com o título A Oeste Nada de Novo.
Nota do autor:
Totentanz (Baile das Caveiras, Dança da Morte, Dança Macabra) é o nome de uma obra para piano solo e orquestra de Franz Liszt, notável por basear-se na melodia gregoriana do “Dies irae”, bem como em inovações estilísticas. Foi interpretado pela primeira vez em 1838, concluído e publicado em 1849 e revisado em 1853 e 1859.
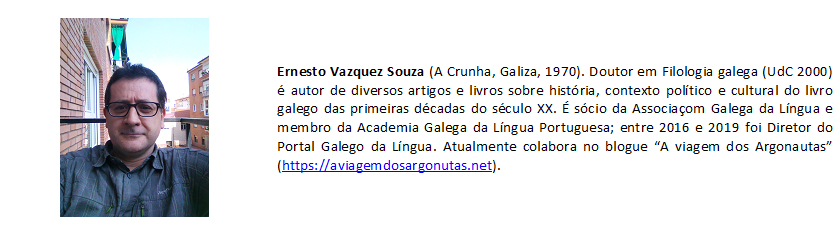

Se perguntamos a alguém na rua o que é cultura, explicam-nos muito provavelmente que se trata de arte, como a dança, o teatro ou a literatura. Mas a cultura é como ar e está em tudo. Rege nossas relações como o ar enche nossos pulmões por todo o tempo em que estamos vivos. A cultura é o nosso conjunto de valores, os quais nos ajudam a entender quem somos e como podemos ser nesse mundo tão cheio de culturas distintas. A cultura nos delimita, queiramos nós ou não, ela nos ajuda a definir nossas fronteiras pessoais numa contemporaneidade onde podemos ser diversos. Através da arte, a cultura encontra de como se expressar, sem precisar de explicações. No tom do azul, na letra do funk, no passo da dança ou naquela fala bem colocada no roteiro. E em contexto onde tudo é tão novo que precisa ser explicado, justificado e comprovado cientificamente, a cultura encontra em suas expressões artísticas um respiro de normalidade.
Se não podemos ser fisicamente sociais, como intrinsecamente somos desde a primeira busca desesperada pelo toque de nossa mãe, então agora nossas decisões devem ser socializadas para que possamos o quanto antes buscar de novo e em segurança o abraço caloroso de quem amamos. E, nessa jornada pelo desconhecido, nos ajuda quem permanece como sempre conhecemos, a arte. Então, em sua expressão máxima, a cultura se flexibiliza, se reinventa, se apropria dos meios que pode, quase que por instinto, para que possamos sentir que estamos um pouco mais juntos. A cultura une, porque um só não faz cultura. A cultura aprende, porque nós estamos aprendendo como podemos ser nesse novo normal. Se há um papel para a cultura no combate a pandemia, é o de nos guiar pelo novo com ar de normalidade.


Numa terra de cinquenta mil mortos, ela respirava entre as cinzas.
Ainda estava viva.
Ainda era capaz da imortalidade.
Ainda era chamada a contar histórias.
Mas agora era a história dos mortos.
Agora era a história das vítimas.
A história dos invisíveis de uma nação guiada por mãos genocidas.
A história de pessoas sem respiradores, sem funerais, sem medicamentos.
A história de Joões, Josés e Marias; de Abeis, Augustos e Abadias.
Do avô que ganhara um neto;
Da moça que adorava dançar.
Do mecânico de São Lourenço da Mata; da enfermeira do Chuí; do pajé da aldeia indígena.
Vidas sem direito à vida.
Vidas que não importam ao genocida.
E aqui não se fala do genocida-vírus.
Fala-se do genocida do planalto;
Do genocida da república;
Do primeiro a abrir as feridas.
O genocida que respondeu às mortes: “E daí?”.
Mas ela ainda estava viva.
Ainda era capaz de contar histórias.
E imortalizou cada um dos cinquenta mil invisíveis.
Com o nome de “Inumeráveis” foi batizada.
Ela, a arte de contar histórias.
A arte tão imemorial quanto a origem da própria vida.
E assim ele foi erguido.
O memorial de palavras,
O memorial das almas perdidas.
Almas que viraram palavras,
Palavras viraram arte.
Arte sobre a qual
a realidade está escrita.
*Poema em homenagem à iniciativa “Inumeráveis”, que se dedica a contar a história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil.


Hoje acordei muito cedo. Não era minha intenção acordar cedo (gosto de dormir a manhã na cama, pouco mais tenho para fazer), mas aí pelas oito ou oito e meia comecei a ouvir pimpins, um a cada segundo. Torneira mal fechada, deduzi. E deduzi porque não era a primeira vez nem a segunda que isso acontecia. O som parecia vir da cozinha, lá fui, vi aquela grande mancha de água no chão. Pois era isso mesmo: torneira mal fechada, válvula deixada no ralo do lava-louça, o pingo encheu o lava-louça, a água extravasou.
Agi rápido de esfregona na mão porque a água já estava a entrar no buraquinho entre o mosaico e a parede deste velho primeiro esquerdo. Velho, e de renda que a segurança social me ajuda a pagar (depois de muitos requerimentos e provas de pobreza, qual delas mais dramática).
Ainda eu não tinha acabado de esfregonar, bate-me à porta a Dona Arlete do rés-do-chão. Ela vem sempre reclamar, palpitei logo mais uma reclamação. A Dona Arlete vinha de máscara cirúrgica e ar zangado. Não disse bom-dia, o que disse foi:
– Ouça lá, você sabe que estamos em pandemia e tem o descaramento de abrir a porta sem máscara que me proteja das suas tosses e espirros?
Recuei prontamente, fui enfiar a máscara, reapareci.
– Já imagino ao que vem, Dona Arlete. Desculpe lá, deixei outra vez a torneira mal fechada, deve haver um pouco de água a escorrer pela sua parede abaixo.
– Um pouco de água? Diga antes um rio!
– As minhas desculpas, Dona Arlete. Vou já limpar a sua parede, dê-me só uns minutos para tirar o pijama e vestir qualquer coisa.
– Entrar em minha casa? É o entras! Eu sei lá se você está infectado?
Lançou-me um olhar esconso, desandou, e manteve o ar esconso a descer a escada. Começava mal o dia.
Já que estava à porta avancei para a caixa do correio à procura daquela carta da segurança social a anunciar o aumento mensal de dois euros na pensão. Havia quase um mês que o aumento tinha sido aprovado em parlamento ─ e o raio da carta nunca mais aparecia a confirmar, tranquilizar. Também não apareceu hoje, na caixa só vi a fatura da luz. O dia continuava mal.
Vesti-me a preceito (não sei bem para quê, não tinha plano de saída), fiz café que bebi sem leite porque o leite tinha acabado ─ e eu não iria conseguir outro pacote porque a lojinha aqui do bairro continua fechada. Não gosto deste café se não lhe misturar um pouco de leite. Porque este café é desses cafés de plástico que vêm em frasquinho e saberão certamente a qualquer coisa ─ mas não a café. O dia piorava a olhos vistos.
Mas, já que estava vestido a preceito, saí para uma daquelas voltas curtas que ainda se autorizam. Ia para onde? Não fazia ideia. Nestas dúvidas costumo rumar à paragem do autocarro e esperar o primeiro que passe. Se for o que vai para Oeiras, vou para Oeiras; se for o que vai para a Amadora, vou para a Amadora. E na Amadora apanho comboio até Lisboa se me sinto tentado a viagem mais longa. Nada de planos prévios, tudo a decidir na hora. Porque planos prévios em tempo de pandemia não se devem fazer, o mais certo é saírem furados.
Passou primeiro o autocarro da Amadora, fui para a Amadora. Que tinha eu a fazer na Amadora? Nada, absolutamente nada. Foi talvez esse nada que me decidiu a entrar no comboio para Lisboa. E que tinha eu fazer em Lisboa? Também nada, absolutamente nada.
Em tempos de pandemia viaja-se bem no comboio: máximo de 10 ou 15 passageiros por carruagem, e bem afastados uns dos outros para evitar contaminações (norma em letras gordas na estação).
Na Amadora só entraram dois na carruagem vazia: eu e um sujeito que se preparava para sentar mesmo a meu lado. Sou de poucas palavras, encostei o indicador da mão esquerda ao indicador da mão direita, depois afastei-os aí uns vinte centímetros. O homem percebeu o convite a afastamento, avançou duas fileiras, instalou-se numa das muitas cadeiras vazias. Estava agora a quase três metros, cumpria a regra. Sou de poucas palavras, só lhe atirei um gesto de agradecimento.
Mas o homem queria falar. Virou-se no assento, disse:
– Desculpe lá, eu sei que não posso sentar junto, mas só queria falar um pouco. Já há dias que não falo com ninguém por causa desta porcaria do confinamento. E eu gosto de falar, trocar umas ideias.
– Troque.
–Bom, na verdade não tenho nada de especial para dizer, só queria desenferrujar a língua.
– Desenferruje.
– É uma chatice esta coisa de termos de ficar confinados em casa por causa do vírus, não é verdade?
– É.
– A vida já estava mal; e agora com este confinamento pior ficou, não acha o senhor?
– Acho.
– Com este confinamento tudo me passou a correr às avessas porque agora até tenho de aturar vizinhos que anteriormente pouco via. Imagine o senhor que ainda não eram sete da manhã e já eu me via obrigado a deixar a cama para atender a fulana do segundo esquerdo ─ reclamação por causa da janela que eu tinha deixado aberta e a bater toda a noite. Veja o senhor que a fulana até me chamou descarado por lhe ter aparecido à porta sem máscara. Então o senhor acha que uma pessoa que acaba de se levantar da cama já tem de andar de máscara?
– Não acho.
– Vi logo que o dia estava a começar mal. E mal continuou porque quando me preparava para “matabichar” verifiquei que o pão tinha acabado. Onde ia eu arranjar pão com todas as lojas fechadas por causa da pandemia? Não “matabichei”, o dia continuava mau. E pior ficou quando fui à caixa do correio e vi que ainda não tinha chegado a carta da segurança social a anunciar aquele aumento de dois euros que os tipos andaram a discutir no parlamento. Uma chatice. Um tipo ganha tão poucochinho e depois nunca mais aparece o aumento que lhe andaram a prometer. Um problema que o senhor não terá porque a sua reforma deve ser aí uns mil, não?
– Dois.
– Dois mil euros? Porra, isso é um balúrdio! Quem me dera! Mas não pense que tenho inveja. Ganho pouco porque só fiz a 4ª classe, enquanto que o senhor deve ter tirado cursos…
– Vários.
– Olhe, isso de ganhar um balúrdio acaba por não ser lá muito bom porque quanto mais se ganha mais se desconta. A si também lhe devem tirar logo um balúrdio em descontos, não?
– Um balúrdio.
(Afundei-me mais no assento, evitava que ele reparasse bem no casaco coçado. No sapato cambado e na calça de feira não podia ele reparar porque lhe ficavam fora do ângulo de visão.)
O homem continuava a dissertação sobre balúrdios e descontos:
– A mim não fazem desconto porque a minha pensão não chega ao salário mínimo. Com isso tenho sorte. Mas, por outro lado, ganhar abaixo do salário mínimo é tão pouco, não é?
– Deve ser.
– Pois, continuando a nossa conversa, eu já estava tão farto de estar fechado em casa que hoje resolvi sair, ir até Lisboa. Não é que eu tenha alguma coisa a fazer em Lisboa. Nada, absolutamente nada, vou só espairecer. Mas quando cheguei aqui à estação já estava a ficar arrependido. Sabe, é que eu sou muito esquecido, estou na dúvida se deixei ou não deixei a luz da cozinha acesa. Mas que se lixe, resolvi não voltar atrás, vou mesmo espairecer. O senhor também vai espairecer?
– A negócios.
– Pois negócios é coisa a que me não dedico, tirante as couves e as batatas que de vez em quando compro ao Chico Espinha, aquele que tem lojinha de hortícolas na minha rua. Por acaso ainda não me deu os vinte e cinco cêntimos de troco da compra da semana passada. Dizia ele que não tinha moedas. Aldrabice. O senhor conhece o Chico, não conhece?
– Perfeitamente.
– Pois eu não vou a Lisboa a negócios, vou só espairecer na rua. Digo na rua porque às vezes também espaireço em casa. E, porque simpatizo consigo, até lhe vou dizer como espaireço em casa: escrevo. Só fiz a 4ª classe do tempo do Salazar, mas mesmo assim gosto de escrever coisas, é a maneira como espaireço em casa. O senhor por acaso será como eu, também costuma escrever coisas?
– Nunca.
– Pois então aceite o meu conselho, escreva umas coisas de vez em quando. Ajuda a passar o tempo, distrai, e é bom para a saúde da cabeça, não acha?
– Talvez seja.
Ele não chegou a dizer-me que coisas costumava escrever porque o comboio já chegava ao Rossio. Atirei-lhe um aceno de despedida, raspei-me rápido. Sou de poucas conversas e palavras. Não queria mesmo mais conversa com aquele companheiro de desgraças.
No Rossio pareceu-me que já tinha espairecido o suficiente, já podia voltar ao comboio para o regresso, subi a escadaria da estação. Não fui pela escada rolante, não. O diabo tece-as, e eu sei que há sempre uns tipos apressados que ultrapassam e se encostam demasiado quando o fazem. Melhor usar a velha escadaria: em tempo de pandemia homem prevenido vale por dois e meio, diz o meu vizinho Jeremias.
Eu a entrar na carruagem e a ver lá aquele palavroso companheiro de desgraças que até já tinha esquecido. O homem aproximou-se logo, fiz o tal sinal dos indicadores a afastar-se, ele cumpriu, recomeçou a conversa interrompida:
– Olhe, ainda bem que saí de casa, consegui realmente espairecer um pouco em Lisboa. O senhor é que não deve ter podido espairecer porque vinha tratar de negócios. Bem proveitosos esses negócios, suponho…
Não sei se era pergunta ou não, mas respondi:
– Muito.
– Pois eu não sabia que direção tomar, acabei me decidindo pela Rua do Carmo, que é a que fica aqui mais perto. De modo que subi essa rua. Não gosto muito de a subir porque por ela acima vejo sempre aqueles vadios de tatuagem, trança, e brinco na orelha, muitas vezes com uma gajas que não parecem melhores do que eles. Acho que o governo devia era espantá-los dali para fora, obrigá-los a trabalhar, não acha também o senhor?
– Acho.
– Pois continuei rua acima, virei depois para a Garrett, frente à Brasileira lá estavam umas gajas e uns gajos da estranja a tirar selfie com o homem de ferro que está sentado na cadeira. Vejo sempre isto. A propósito: o senhor tem alguma ideia de quem seja o homem de ferro?
– Nenhuma.
– Depois andei mais uns cem metros, cheguei à estátua daquele fulano que escreveu uns versos que os miúdos da escola são obrigados a estudar. Já ouviu falar desses versos, não ouviu?
– Não.
– É pena, porque o Gervásio até diz que esses versos são coisa boa. O senhor conhece o Gervásio, não conhece? Aquele que mora junto ao Minipreço e é casado com a Catarina da papelaria, não conhece?
– Perfeitamente. (Quem diabo será esse Gervásio?)
– Pois o Gervásio diz que os versos são coisa boa. Mas não era do Gervásio que eu queria falar, eu queria era continuar a contar o meu passeio de espairecimento. Da estátua do homem dos versos desci até ao Cais do Sodré, depois voltei ao Rossio por aquela rua onde há as lojas do bacalhau. Mas nem gosto de passar por aí, confesso que tenho sempre inveja daquele bacalhau grosso. No tempo do Salazar também havia um bacalhau fininho, chamavam-lhe de terceira, coisa tão barata que toda a gente podia comprar. Hoje não: bacalhau grosso ou fino é tudo caro, tudo comida de rico. Eu gostava de voltar a ter aquele bacalhau barato dos tempos do Salazar, por isso não percebo porque é que há para aí tanta gente a dizer mal do homem nos jornais e nas televisões. É feio, não acha?
– Acho.
– E também achei feio aquela coisa de os comunas lhe tirarem o nome da ponte, até parece que foram eles, os comunas, a construí-la à pressa na noite de 24 para 25. O senhor acha isso bem?
– Não acho.
Estávamos a chegar à Amadora, o homem levantou-se para sair, pensei que ia finalmente libertar-me dele. Mas não, ele ainda tinha mais para dizer:
– Pois, meu caro senhor, nem imagina como gostei da nossa troca de impressões. O senhor faz pouca pergunta e responde curto, não é como essa gente que passa a vida a tagarelar. Nunca gostei de gente que fala pelos cotovelos, falam muito porque não sabem ouvir. E quando respondem a alguma pergunta dão voltas e mais voltas até chegar àquele ponto que nos interessa. E sabe o senhor mais? Depois de muita conversa veem que não arranjam resposta de jeito, põem-se a divagar, falam disto e daquilo, parece que têm corda. Enfim, gente que fala muito e diz pouco. Mas consigo é mesmo bom falar. Faz pouca pergunta e dá resposta curta. Isso é que é saber conversar. Foi um prazer esta troca de impressões, muito obrigado e proteja-se do vírus. O vírus só devia atacar os que falam demais, mas ataca a todos, por isso proteja-se.
Na plataforma lembrou-se de mais qualquer coisa. Mas a porta já tinha fechado, o comboio partia, e ele corria plataforma fora ao lado do comboio, estava a dizer-me mais qualquer coisa. Mas não percebi, sou mau leitor de lábios.
Cheguei ao meu prédio, vi a Dona Arlete de máscara à janela do rés-do-chão, atirei-lhe aceno amável (a que só respondeu com ar esconso), procurei a chave, quando entrei em casa corri a ver como estavam as coisas na cozinha. Tudo legal, como dizem os brazucas: não ouvi pim….pim, mosaicos bem secos, nada de água a espraiar, alegrei-me.
Mas logo me desalegrei quando entrei no quarto: luz deixada acesa por umas quatro horas e a eletricidade está tão cara! Dia mau até ao fim, vi que precisava de sair outra vez, espairecer mais um pouco. E então lembrei o sujeito que tinha desenferrujado a língua à minha custa e me confidenciara que também espairece em casa escrevendo coisas.
Fiz mais café daquele que sabe a outra qualquer coisa, arregacei as mangas, peguei a bic de ponta fina, e comecei a escrever esta história para que os senhores (e as senhoras) se possam entregar a um pouco de espairecimento caseiro em tempo de pandemia. Certo que não será espairecimento muito cultural porque a minha 4ª classe não dá para isso ─ vem do tempo do Salazar, tal como a do meu companheiro de viagem. Mas se a dele dá para espairecer em casa ─ também a minha há de dar. Pena é que eu ainda não tenha conseguido adaptar-me (ou adatar-me?) a esse novo acordo ortográfico que anda aí pelas esquinas.


Texto de Filipa Vera Jardim (Portugal-Moçambique):
O BICHO
Breve reflexão sobre o bicho (pandemia de Coronavírus 2020)
Chegou de repente, o bicho, e invadiu tudo.
Um bicho redondo, sem arestas definidas nem olhos para ver. Sem orelhas para ouvir nem pernas para correr, sem asas, sem braços, sem quase existência.
Um bicho redondo que se insurgiu e se acomodou sem pedir licença.
Sabe-se pouco do bicho, dos seus hábitos, muito menos a forma de o combater. O bicho chegou e invadiu tudo o que havia.
Diz-se que se cola aos sapatos, emaranha pelos cabelos, transpõe a fronteira das pálpebras, da boca, do tracto respiratório de cada um, do tracto existencial de todos. Das paredes da alma, até. E vive em todo o lado na sua omnipresença de quase não existência, esse bicho.
Chegou de repente, o bicho, e invadiu tudo o que havia e todos.
Há quem jure que sobrevive a qualquer clima. Afinal, nesse lugar de quase não existência, “qualquer” significa quase nada. É um bicho preparado para o calor, o frio e a intempérie. Um bicho que não teme ser arrastado pela chuva grossa que escorre lá fora de encontro à vidraça. Um bicho que trata a neve e o vento com o à vontade de quem os conhece por inteiro.
E o bicho chegou de repente e invadiu mesmo tudo.
Diz-se que o bicho, microscópico, que ninguém vê, tem poderes. São poderes enormes, quase absolutos.
Trata-se afinal, de um rei minúsculo, esse bicho que atravessou os mares, os continentes. Um rei solitário e viajante que ontem era só uma ameaça e hoje se torna numa realidade cada vez mais constante, cada vez mais presente.
Um bicho que chegou e invadiu tudo com a vontade firme de permanecer.
Todos os dias, o espaço do bicho cresce mais e mais. Outros bairros, outras gentes, outros pontos do mundo. O bicho persiste dentro e fora. Avança destemido pelo ar e à boleia de quem corre, de quem fala, de quem existe, de quem se mexe, de quem transpira, de quem trabalha e de quem é gente.
Não fosse dar-se o caso de haver gente e, porventura, nem haveria bicho. É da humanidade e do afecto, da proximidade e da convivência que o bicho se alimenta.
Uma companhia tóxica, inoportuna e insidiosa que a pouco e pouco nos confina o espaço e nos alarga o tempo.
O bicho é afinal a própria transcendência na sua plenitude maldosa e alimenta-se da característica mais plena que lhe garante longa vida: a nossa completa ignorância.
Cada vez que não sabemos nada desse bicho ele ganha mais um espaço.
Desta vez, diz-se que entrou pelas janelas, pelas frinchas, pela conversa amena que tivemos sem pensar. Ou então, diz-se que se senta à mesa e se cola às nossas mãos…
Não podemos é deixar de pensar. Não pensar é abrir a porta ao bicho que se alimenta dos nossos descuidos e do nosso desespero. Disso, já temos já praticamente a certeza.
Ontem deixei de me desinfectar e o bicho ganhou espaço…
Ontem dei-te um abraço e o bicho galgou um infinito…
Ontem, chorei as lágrimas da tua ausência e o bicho aproveitou a torrente que me escorria da cara para nadar em contraciclo, através dos cantos abertos e agora vazios dos meus olhos.
Não pensei…No entanto, se pensasse sempre talvez também não fosse espontâneo. A espontaneidade é pois um perigo com este bicho.
Não sabendo nós nunca onde ele está, é como se estivesse em toda a parte.
O espaço, ocupa-o ele, sobretudo, de cada vez que temos medo, de cada vez que nos encolhemos e não saímos, não fazemos, não permitimos, não agimos na nossa plenitude de humanidade.
O tempo é agora longo e vazio. O espaço imenso que o bicho ocupa confinou-nos a um absurdo onde nada mais existe porque nada mais é importante.
De todas as nossas rotinas, agora suspensas, ficaram apenas aquelas que não nos definem e não nos diferenciam. Somos seres vivos, alimentamo-nos, dormimos e somos apenas isso, diz-nos o bicho todos os dias do alto da sua omnipresença encapotada.
Numa pandemia, aprendemos por isso a ter saudade daquilo que já fomos e não sabemos se alguma vez voltaremos a ser. O tempo curto dos nossos afazeres, que foi substituído por este acumular de angústia, desapareceu. E o espaço, o nosso ínfimo espaço, agora ficou reduzido na nossa mera existência porque o bicho levou com ele a nossa essência. Tem-na lá escondida por detrás de toda a nossa ignorância e sobretudo do nosso medo.
Um dia, o sol pode até queimar este bicho ou alguém desistir da sua existência ou alguém provar que é possível combate-lo. Até lá, temos esta invisibilidade omnipresente e sufocante, cada vez maior, que mal conhecemos e não antecipamos.
Por agora, ficamos nesta espécie de dormência sem saber se algum dia nos cruzaremos a sério com este bicho e com as suas consequências. Estamos à espera e vigilantes. Somos mortais, isso aprendemos logo no dia em que o bicho chegou.
E o bicho chegou e invadiu tudo!
* A autora não segue o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.


Texto de Gabriel Baguet (Angola):
SE A CIDADE FOSSE UM LIVRO
A trágica Pandemia Mundial que tem marcado o compasso dos nossos dias e das Cidades trouxe ao nosso imaginário e à nossa Memória individual e coletiva múltiplas questões, mas igualmente muitas e diversas respostas não conclusivas face ao nosso quotidiano. O COVID-19 tem deixado a cada um de nós e a nível planetário esta infeliz narrativa. O extraordinário apelo da UCCLA para refletir a Cultura em Tempos de Pandemia é de uma coragem e um desafio que fica na História da nossa existência e em pleno Século XXI. Por essa e outras razões e no quadro do Paradigma de Um Novo Mundo, aceitei comovido namorar com algumas palavras e incorrer nesta caminhada tão fundamental e necessária que é a Cultura.
A minha reflexão ao longo deste tempo Novo Tempo tem implicado a observação mais detalhada das Cidades, e da Cidade em si, como um todo que percorremos no domínio da Arquitetura, da palavra Cultura, da História, da Cidade e das Cidades como espaços de Arte, de Diálogo Humano e de construção também de territórios culturais tão imprescindíveis ao Desenvolvimento Humano, mas inquestionavelmente uma ponte para fixar no Tempo, na Memória e na Escrita, a partilha de Saber e do Conhecimento. Este texto começou a ser desenhado há muito tempo e continuado no silêncio dos meus Dias, observando e sentindo o silêncio dos Dias do mundo. As Ruas, as Avenidas, os Museus, as Livrarias, os lugares habituais de Diálogo e de Falas Culturais nos diferentes domínios da Criação e da Expressão Artística ficaram em Silêncio.
A Pandemia, infelizmente para todos Nós, reteve-nos no Tempo da nossa Memória e das nossas variadas inquietações, interrompeu o decurso natural da vida e passou a chamar-se um "Novo Normal".
E das imensas citações e pensamentos que poderia fixar nesta fala com a Escrita, há uma que me ocorreu deixar nesta análise pela coincidência da primeira letra do Alfabeto ser a Letra A e referir Angola, meu espaço urbano de nascença e meu cais de embarque para o Mundo é lembrar Luanda, a minha Cidade berço e como disse o Escritor e Etnógrafo Angolano Óscar Bento Ribas, "Luanda é a luz dos meus olhos que a minha cegueira não retirou". Desta lindíssima citação do Autor de múltiplos livros sobre a Identidade cultural Angolana, acrescentaria a do histórico estudioso do Jazz em Angola que é Jerónimo Belo e que escreveu de modo sábio e romântico e que cito que "é possível amar uma Cidade como se uma mulher". É verdade. Por isso, "Se a Cidade Fosse um Livro", cada página teria os nomes de todas as Vítimas do COVID-19 e as futuras Avenidas da nossa Cidade, das Existentes e das Imaginárias, teriam igualmente uma inscrição toponímica como forma de Homenagem a quem viu subitamente a sua Vida interrompida.
"Se a Cidade Fosse um LIVRO", cada capa e contracapa teria o nome de todos os Museus, Galerias de Arte, de Músicos, de Pintores, de Escultores, de Bailarinos, de Cineastas, de Poetas e de todos os fazedores de Arte e da Cultura.
Num memorável e inesquecível Poema, o histórico Vinícius de Moraes recorreu à Cidade e lembrou-a como ponto de partida a Amar e escreveu o "Crepúsculo em Nova Iorque". Nova Iorque é, entre outras Cidades do mundo, uma das capitais atingidas por esta brutal Pandemia. E por isso reafirmo nestas humildes palavras que brotam do meu coração que "Se a Cidade Fosse um Livro", cada janela teria um Poema de todos os Poetas do mundo inteiro e cada parágrafo de cada Livro teria o nome de todos, Mulheres e Homens que ao longo da História da Humanidade escreveram, fixaram as suas palavras e sonhos para que de forma natural e romântica deixassem para o devir dos nossos Dias.
"Se a Cidade Fosse um Livro", cada palavra falaria da importância do Amor, dos Abraços fora e dentro da Pandemia, mas da necessidade Afetiva de um Beijo, da desejada Cultura e dos seus troncos de Falas multidisciplinares e de Cidadania Inclusiva.
"Se a Cidade Fosse um Livro", cada Glossário, Prefácios e Posfácios falariam de Humanismo, cada vez mais importante nos Novos Dias da Humanidade, de mais Cultura e Conhecimento, mas também de mais Partilha, Fraternidade e Solidariedade porque a Cultura, a Cidade e as Cidades precisam destes laços e desta Insustentável Leveza da Cultura.
"Se a Cidade Fosse um Livro" registaria para Memória presente e futura o nome de Escultura que fortalece o nosso Amor pela Arte e pelos laços que são necessários recriar em Tempos de Pandemia, apesar das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação Global permitirem reinventar as nossas Vidas. Criar é preciso. "Se a Cidade fosse um Livro", cada Livro continha páginas traduzidas com as palavras Abraço, Amor, Paz, Tolerância, Respeito pela Diferença, Desenvolvimento Humano e necessariamente a minha apaixonada palavra Cultura em termos locais e globais.
"Se a Cidade Fosse um Livro", cada página não deixaria de conter múltiplas referências aos nomes de todas as Mulheres e Homens que ao longo da História da Humanidade estiveram e continuam ligados ao Devir da Cidade, das Cidades e dos Livros, num processo de contínua construção cultural no plano das Artes, da Cultura e claramente no domínio das Artes Plásticas e das suas outras Artes, como a Pintura, a História de Arte, a Escultura, o Desenho, a Fotografia, a Música, a Literatura, a Poesia, a Arquitetura, o Cinema, e do necessário caminho de encontro dos Espaços Museológicos e da consulta imperativa dos seus Acervos. Os Acervos, quaisquer sejam, são lugares e gavetas de Memória permanente e que estão inscritos na narrativa da Cidade, das Cidades e, necessariamente, "Se a Cidade Fosse um Livro". Porque a Cidade é um espaço de Memória e os Territórios que a compõem são páginas de diversas Histórias feitas de passados, de presentes variados e múltiplos futuros. A Cultura é uma das chaves para suavizar o Pensamento, mas igualmente a Cultura permite e alerta-nos para os fenómenos reais do quotidiano e é um palco aberto e dinâmico à práxis dos Novos Tempos. A Cultura é também o Oxigénio de que tanto precisamos para viver, mas também para respirar. A Cultura tem essa dupla responsabilidade e os seus desafios e desígnios abraçam-nos em tempos de incógnitas, mas desafiam-nos a interpretar os dias, os nossos Dias, os dias dos Outros e a beleza que a Cultura comporta em qualquer Cidade ou território do Mundo.
Segundo Le Goff (2013, p.437), “A memória, a qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro”. Enquanto geradora da identidade, a memória pode ser vislumbrada como sendo participante de sua construção, uma vez que a própria identidade de uma sociedade realiza certas seleções da memória e ainda dá forma às predisposições que vão conduzir o indivíduo a incorporar alguns aspectos particulares do passado. Pollak (1992, p.01-03) destaca como característica da memória, tanto individual como coletiva, o caráter mutante. Tais elementos mutáveis são, sobretudo, episódios vividos pessoalmente ou pelo grupo no qual a pessoa se relaciona. A memória também pode sofrer flutuações, dependendo do momento em que ela está sendo abordada. O autor analisa ainda os elementos constitutivos da memória e ordena-os em: acontecimentos, pessoas e lugares. Os acontecimentos podem ser vividos pessoalmente ou ser acontecimentos vividos “por tabela” (vividos em coletividade); as pessoas podem ser categorizadas por personagens encontradas durante a vida e também vividas indiretamente, ou “por tabela”. Por fim, os lugares da memória, lugares de comemoração, que ficaram marcados na memória pública do indivíduo, os vestígios datados da memória.


Texto de Germano Almeida (Cabo Verde):
QUARENTENA - a cestinha básica
Da sua varanda para a minha o Zé cumprimenta-me com um sonoro bom dia! Mas depois baixa a voz para me perguntar quase num sussurro se não há por aqui nenhuma “cestinha básica” para ele.
Somos vizinhos desde sempre, as nossas relações tiveram muitos altos e baixos, mas melhoraram consideravelmente desde que ele passou a beber só aos fins de semana, dedicando os restantes dias à exploração comercial da casa dos seus pais que transformou num estabelecimento de aluguer de quartos por dias ou por mês. Já lá vão alguns meses que está nessa atividade, aparentemente com proveito porque está com muito bom aspeto físico, limpo e asseado, e também deve andar a alimentar-se e a beber com moderação. Tem voz de trovão, tal qual aliás o pai já tinha, porém trata os seus hóspedes com estima, ouço-o rir com eles, contar piadas, ouvir música, enfim, estão familiarmente em casa. As únicas vezes que o ouço gritar é quando berra “Ou pagas já, ou rua!”
Desde a primeira vez que ouvi esse brado impiedoso que passei a tratá-lo por empresário. Antes disso passava o tempo a pedir-me coisas: Dr, estou sem água em casa, preciso encher uns garrafões; dr, está a faltar-me um dinheirinho para completar o almoço… Cortei isso tudo: Hoje em dia és um empresário estabelecido na praça, no ramo modernamente chamado de hostel, tendo tu a vantagem de não pagar impostos, disse-lhe, eu, pelo contrário, sou um catador sem salário garantido, eu é que devia estar a pedir-te, não o contrário, assim não há mais nada para ti!
Isso já foi há uns tempos e, zangado e orgulhoso, deixou ostensivamente de me cumprimentar e nem água voltou a pedir. Porém, aproveitou agora o covid-19 e o estado de emergência com a cidade fechada para voltar à carga precisamente com a “cesta básica”, que é a expressão que mais se houve no presente tempo.
Na verdade, desde que a decisão foi lembrada e começou a entrar na vida e no vocabulário das ilhas que muito mais gente do que se supunha vem-se achando com direito a uma cesta básica. Sobretudo porque, logo nos primeiros e alarmantes dias da pandemia, quando a imediata e urgente palavra d’ordem foi “lavar as mãos”, com a televisão, em demorados e repetidos programas, mostrando as melhores e mais infalíveis técnicas de as manter asseadas, diligentes grupos de cidadãos do centro da cidade se juntaram para solidariamente recolher sabão variado e destinado a ser distribuído pelo povo dos bairros periféricos: sabonete, sabão de barra, sabão de potassa, sabão clarim, sabão de glicerina, enfim, qualquer tipo de sabão com capacidade para fazer espuma. Que os destinatários aceitaram e receberam alegremente, não só mostrando especial apetência pelos sabonetes com cheiro tipo palmolive ou nívea, como também lembraram que um dos principais dramas das casas de tambor dos bairros de lata é a falta d’água, e sem ela é de todo impossível lavar as mãos. E os nossos citadinos, reconhecendo a justeza e a verdade dessa injunção, estavam ainda em busca de uma solução para resolver o problema da água, tipo, por exemplo, afretar camiões com tanques e mandar distribuir pela periferia, quando um repentino e exponencial acréscimo de covid-19 levou à declaração da segunda e mais premente palavra d’ordem, “ficar em casa”, por sinal mais enérgica que a anterior “lavar as mãos”, porque agora acompanhada da imposição constitucional e policial do “estado de emergência” solenemente declarado pelo presidente da República via televisão, ele de fato completo e gravata escura e sem sorriso, tudo a condizer com a gravidade da situação. E então a água foi, se não esquecida, pelo menos banalizada, sobretudo quando, a seguir à normal euforia de, após quase 45 anos de independência, termos finalmente ascendido à categoria de países com pergaminhos de exército nas ruas, se lembraram que, para grande parte do nosso povo, ficar em casa significava passar fome, a menos que fossem socorridos com urgência e sem delongas, porque a sua vida decorre na rua em busca de expedientes que acabam possibilitando que à noite possam levar a panela ao lume e alimentar os filhos, mesmo que seja apenas com chá e bolacha, o famoso “bife de caneca” que ao longo dos anos mais tem alimentado o nosso povo.
Mas de novo o centro da cidade não desmereceu. Num esforço solidário e conjunto, diversos grupos da Morada, alguns apoiados pela Câmara Municipal, outros por conta própria, voltaram a organizar a recolha de bens junto de empresas e pessoas, dando assim origem às famosas “cestas básicas”, que acabaram sendo distribuídas com alguma largueza. De tal modo que, quando há dias um jornal indiretamente atacado pelo covid-19 e em feroz luta pela sobrevivência, me convidou a colaborar com eles através de uma assinatura digital anual, não tive dúvida em dizer à Filomena, Vou oferecer uma “cesta básica” ao jornal tal. Ao jornal, estranhou? Sim, subscrevendo uma assinatura. E custa quanto? Disse-lhe. Bem, isso são pelo menos dez cestas.
De modo que o Zé também quer, mas ele contenta-se com uma cestinha. Tu não, Zé, digo-lhe peremptório, tu és um empresário de sucesso, tu devias estar a distribuir cestas para os mais precisados. Mas ele continua a falar baixo: os quartos estão todos alugados, diz, mas os meus inquilinos estão todos em casa, ficaram mesmo desempregados, ninguém tem dinheiro para pagar, assim como assim não lhes posso pôr na rua. Mas como, pergunto, e o apoio do Governo de que tanto se está a falar? Por enquanto só em palavras, diz ele, só conversa, estamos todos à espera. Bem, assim fica difícil não inventar uma cesta básica para o Zé!

(créditos fotográficos de Anabela Carvalho)

Texto de Glória Sofia (Cabo Verde):
Falsos toques furaram o céu
Uma gota de sangue cai nos meus ombros
Alice olha a imensidão
E não vê sequer uma estrela.
Gabriel sopra dos meus olhos o lume da lua
Para que as minhas palavras se reduzam a cinzas.
Quando tudo isto passar
Vou tomar banho e ponho um perfume
Olho para o chão e sonho
Sonho como uma criança
Sonho que toco nas tuas mãos
Lentamente, sem pressa.
Depois misturo no teu cheiro
O cheiro da morte da nossa poesia
Abraços não, porque vão manchar o mel.
Flores bebem sol e poemas bebem vírus
Danças de respiração num feixe de luz
Beijos e apertos de mãos numa gaveta trancada
Os meus soluços, apenas os meus, na triste cidade
Infectada pelo Coronavírus.
2. CHUVA VERDE
O vírus abandonou-me por aí
Num grito acorrentado pelo vento
A mastigar a voz do isolamento
A sangrar a âncora que cai
O vírus sonhou, e a morte amou
Como eu, por beijos e toques ansiei
Como pássaro triste flutua pelo céu
Como falso amigo, o vírus actua
Procurou na vida o respirar
O pulmão, como uma pessoa
Procura o amor sem esperar
No corpo o vírus se amontoa
Nos caixões a rima perdoa
Esse verso que perde o ar
3. ESPERANÇA MORTAL
Subitamente caminhei
Por ruas de calor desertas
De medos reflorestadas.
Do alarme ecoa um grito inaudível
Espantos esticam as rugas
Deixam rastos desconhecidos
Abandonados no pavor
E não de repente
Minhas caminhadas pelo rio
Tornam-se pregos que ferem
Meus sensíveis calcanhares.
A primavera acinzenta-se
Nuvens de solidão apõem-se
Nas minhas costas e meus olhos
Entulham-se de poeiras.
Num tom inesperado
Escondo o meu largo sorriso
Aquele sorriso que por vezes odiei
Rabisco que neguei e quis apagar.
Hoje, este sorriso está amarrado
Atrás das orelhas
Pendurado no brilho dos olhos.
Abruptamente, alastra-se
P’los berços da cidade
Uma cor, um mistério
Uma tonalidade salpicada
Pelo pavor da mudança
Este verde que é esperança!
(Revisão: Maria Clara Costa)
* A autora não segue o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990


Texto de Goretti Pina (São Tomé e Príncipe):
Não falemos de abraços delgados e moldantes
e de em sentido pôr os sentidos
de ternura ou de paixão. Agora não.
Falemos de braços recolhidos
resguardando a vida que de frágil tudo tem,
a vida que cuidando se reergue e se renova amanhã.
De beijos dissolvendo ânsias,
erguendo doçuras por vezes enganosas, falaremos.
Falaremos depois que surgir o oásis,
límpido oásis, a galgar triunfante ,
verdejante, todas as margens ,
reinventando a paisagem.
Falaremos depois dos beijos, sim, dos beijos
do próprio sol sobre as esmeraldas vivas
que serão o nosso olhar nostálgico
mas sereno
sobre a força da vida que vencerá
todas as sortes ou artimanhas.
Os abraços recolhidos porque sim
serão berços, serão mantos de luz pura ,
serão lírios silvestres nos campos de amor
revigorados então.
De ébano, de néon e de orvalho cheirando a jasmim
serão os beijos. Belos.
Como se desenhados, se programados com carinho
e com cuidado para depois.
Falemos sim dos abraços
que podemos ganhar como prendas
de pessoas de almas limpas.
Abraços como uvas maduras,
como o obóbó quente sobre a mesa
num dia de chuva na ilha,
Abraços com encanto como o Tejo,
Esses muito bons.
Abraços que podemos ganhar
quando o sol voltar sem sombras feias
sobre as nossas cabeças.
Não falemos ainda. Ainda não. Falaremos.
Fiquemos em casa com os melhores desejos
e com a fé mais carregada de amor
e de gratidão carregada
por quem em casa não pode ficar.
Guardemo-nos
como tostões amealhados a todo o custo
para comprar a liberdade.
Deixemos encontro marcado para depois
das dúvidas, das dívidas, do pavor, das afrontas,
do deserto onde Deus nos irá colocar
porque Deus!
Lá não haverá mais receios destes
nem candongas , nem contrabando
sequer de coragem.
Lá falaremos dos beijos e dos abraços.
Com propriedade falaremos.
Sobretudo da falta sentida.
Viveremos os beijos e os abraços.
Com a alegria equiparável à de uma ressurreição.
Mas, ainda não.
E esperança será promessa cumprida.
Viveremos os beijos
e de qualquer formato que possam ser,
vivê-los outra vez será folia,
será como festa nas avenidas!
Como um sorriso rasgado, uma gargalhada desregrada,
de um rosto cheio de rugas!
Viveremos os abraços como se de seda
a mais suave carícia,
como banho de sal grosso
banindo todos os enguiços.
Agora ainda não.
Depois.
Os beijos que viveremos serão luar e flauta
e cantos de anjos e de sereias furtando o ar,
pintando de estrelas cintilantes o raiar do nosso amanhecer
alternando
sem quebra de fogo nem de doçura
imitando
as vozes de Anastácia e de Lura.
Amanhã.
E fez-se noite
de repente
em todos os cantos
depois da China.
A fina poeira que somos
em duas classes novas
encontrou-se:
a da bravura
e a do medo.
sem cores, sem credos,
apenas a bravura e o medo.
De repente.
Rebentaram em estrondos
de enfins
o surdo mundo
que a serenar obrigou-se.
E ainda assim a noite
cantos há que não abafa
nem na trincheira
onde armado até aos dentes
está o inimigo valente.
Berreiros há que desperta,
vergonhas há que descoberta
a noite, essa incerta.
Fez-se noite sem um raio
que o pudesse anunciar
com tempo
de se acender lamparinas
nem cafucas
nem pirilampos com ou sem magia.
Não se carregam as armas
para matar a noite
não se matam noites
comprando armas
nem sequer as das artes do oculto.
Não se matam noites
banindo estrelas
pois que
sempre uma fina luz que reste
sustentará de beleza
o arco-íris adiante!...
A noite fez-se senhora
de todas as trevas
para afrontar a todos sem excepção
ou quase.
Tendo chegado sem véspera
é uma serpente, uma anaconda
com tentáculos gigantes de pota,
é um monstro essa noite!
Fez-se então noite
e o mundo travou suas pressas
e quem sabe terá entendido
o essencial.
O essencial é só a vida!

(créditos fotográficos de Anabela Carvalho)

Texto de Guilherme Valente (Portugal):
OS LIVROS PROVAM QUE OS SERES HUMANOS SÃO CAPAZES DE FAZER MAGIA
A leitura, o livro, a liberdade, a democracia cresceram juntos. O mapa da expansão do livro e da leitura é o mapa do milagre do desenvolvimento. Ainda hoje uma linha divisória separa, na Europa os países que aprenderam cedo a ler dos que aprenderam tarde. Estamos, Portugal está, infelizmente, do lado errado da Europa. O livro, a educação para o conhecimento, a consciência cívica e a liberdade foram sempre uma ameaça para os tiranos.
Num livro luminoso que emocionou milhões de pessoas por todo o mundo, Cosmos, Carl Sagan, cidadão do universo, ensinou-nos que os seres humanos são capazes de fazer magia. Magia com livros, ciência, conhecimento, solidariedade. E disse mais, disse que o conhecimento e a solidariedade são o único futuro possível para a Humanidade.
Os livros transportam os seres humanos de todas as épocas e lugares para junto de nós. Ouvimo-los agora na intimidade da nossa consciência, da nossa inteligência e sensibilidade, a falar para cada um de nós. Pela escrita e pelo livro somos o eco de todo o conhecimento humano, das criações literárias e artísticas de todos os tempos e latitudes, portadores e retransmissores e multiplicadores das aspirações, alegrias e sofrimentos, inconformismo, generosidade, do melhor da nossa comum humanidade. Registo e exaltação do melhor de nós.
Estamos a viver hoje uma experiência terrível. Temos de acreditar nessa convicção exaltante que animou a vida de Carl Sagan. Tem de animar também as nossas vidas.
Com a razão, a solidariedade, a fé que eleve, vamos vencer esta ameaça. Vamos fazer magia. Todos. Juntos. Agora.


Texto de Hélder Simbad (Angola):
É inaudível a voz do isolamento
o intestinal grito do estômago da democracia
o medo esmurrando as grades na cabeça
abre-se a garganta em seu invisível presídio
solta o questionário filosófico ou um tratado de fome
Deus e homens e vírus em seus distintos laboratórios
indecifrável vírus o homem
o eco se dilui nas paredes da saudade
E segue a voz isolada na ausência dos homens invisíveis
também as ruas nas crianças com sorte natalícia
é uma voz que se não via em nós escutando perscrutando
voz de memória voz professora
voz sem voz porque se ouve no silêncio
INVISÍVEL BARREIRA
Porém prevalece o tédio
o tempo infinito amargos dias
uma batalha existencial
na roda do globo
Eis o homem das imponentes torres
o das viagens interplanetárias
prostrado diante do minúsculo ser
terráqueo multiplicador
menos que um grão de areia
menos que uma gotícula de saliva
tão enorme como a arrogância
Pede o Estado a mão do pão
lá fora a fratricida história ressuscita
brinquedos da infância acordam gigantes: militares e tanques
lutando contra o invisível
Aqui habita o mar de alcatrão que me separa do amor
portanto eis-me aqui sem mamas para extrair orquídeas
observando a preguiça das horas
enquanto o mundo seleciona habitantes
Puta merda: tenho poesias fervendo na garganta
DESCONFINAR-SE?
Tenho de sair para recolher lírios
uma desértica rua espia-me
o soldado o vaso azul ENORME repele-me
Regresso corpo desalmado
como a vasta solidão da casa que assombro
como garfos com facas e lambuzo-me
Beija o copo a fúria do azulejo
cristais kryptonianos mordem pés
Esquizofrénico procuro por mim
não estou o que queres de mim
Covid 19
Abre a vizinha as pernas gaiola e solta o vagipássaro
mas eu escrevo apenas mamas
e nos cus dos Judas outra parte de mim
ama menta-se
A RAZÃO DOS ÁRABES
Nesta convalescente era de todos árabes
parar marchar viajar ramadão
meditar pelas infinitas galáxias de mim
lá fora habitam invisíveis legiões de demónios
e homens de bem mascarados de terroristas
os tanques os soldados as armas de grande porte
o emergente Estado de Emergência espraia
seus conturbados desertos
a revolta dos intestinos a seca na garganta
os milhões da Assembleia Nacional
insensíveis deuses temendo a morte


Texto de João Fernando André (Angola):
Aprendi com o velho Francisco: Na luta de elefantes quem sofre é o capim.
Apontamento 1
O Corona é um vírus previsto pelos bonecos Astérix e Obélix e pelos Simpsons. Por meio de partituras invisíveis, os donos do mundo anunciavam-nos o actual e actuante problema da humanidade. Ninguém percebeu, porque andamos todos mais no virtual do que no real.
Há vários vírus matando o mundo, mas ninguém vê. Há o vírus da fome, o da seca, o das poluições, o do trabalho exagerado, o da falta de amor ao próximo, o da exploração do outro, o da malária e tantos outros que conhecemos, porém fazemos de conta que não existem, que nunca os vimos, que não ouvimos os que deles padecem a gemer.
Apontamento 2
A mundialização foi/é boa mas, a partir de agora, os governos deviam pensar em melhores políticas para a saída e a entrada de pessoas e bens nos seus territórios.
Apontamento 3
A ser verdade que o homem é o lobo do próprio homem, é uma vergonha, pois todos os que patrocinam guerras e ajudam dados indivíduos em detrimento da maior parte da população da maioria dos países do mundo estão mais para lixo do que para humanos.
Apontamento 4
Antes que seja tarde, que os que possam melhorar o mundo cessem os seus vícios, cessem os seus egoísmos, cessem os seus luxos. Que haja mais amor pelo próximo. Que haja menos dívidas externas e mais cooperações. Que se crie ajuda aos países pobres para saírem da pobreza em que estão.
Apontamento 5
Ante a tal COVID-19, que se aposte mais na produção nacional. Que se pense no mundo que queremos deixar para os futuros humanos. Que se aposte mais na arte e num progresso que não mate ninguém.
A bem da humanidade!
* O autor não segue a grafia do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.


SONETO À REDESCOBERTA
Talvez nunca soubesse a luz de um rosto,
O toque de uma mão, a cor de um beijo.
Talvez não percebesse quanto vejo,
Debaixo da poeira de um só gosto.
Mas esta imposição deu-me o ensejo
De perscrutar a fonte do desejo,
Saldando em liberdade o meu desgosto.
No diário da peste fui escrevendo
Esta palavra firme em linhas tortas:
Todo o céu desfraldado em horizonte.
O quanto num abraço me confortas,
Alma Mater, minha sede, minha fonte.


Texto de Joaquim Saial (Portugal):
Ei-lo, não o vejo
mas ele está ali,
atrás daquele carro,
nas pedras da calçada,
junto à linha do rio,
após o arvoredo.
Ei-lo, não o vejo
mas ele está acolá,
no velho hospital,
naquela máscara,
nas luvas cirúrgicas,
colado à vidraça.
Ei-lo, não o vejo
mas ele está além,
nos rostos do povo,
nos ecrãs da televisão,
nos caixões em fila,
frente ao crematório.
Ei-lo, não o vejo
mas ele está aqui,
eterno na nossa vida,
já dentro das almas,
no percurso do Homem,
escrito na sua História.
Para sempre!
O FIM
Tinham sido os dias da grande pandemia. O último homem, que vivera num recôncavo frente ao oceano, já muito fraco, saiu nessa manhã para ver o mar. Em rocha próxima, que emergia da água, estava pousada uma gaivota. O homem sorriu, pensou que afinal não morreria sozinho e finou-se. Instantes após, o pássaro levantou voo e dentro em pouco estava no meio do seu bando, participando em concorridos voos picados, na apanha de alimento. Por aquela praia, nunca mais se viu ninguém.


Para a escritora Maria Salomé Alves
Para que o sentimento se vista de razão
Abro alas ao par desta pandemia
para que o amanhã
aos olhos verdes do mar
nasça como pétalas distribuídas
para que a luz dos teus lábios rejuvenesça
no calor perdido nos trópicos
Co(n)vid(o) os lençóis brancos do teu olhar
quebrar como gaivota perdida
a rua 19 do meu andar
Digo-te
e mais não te digo
palavras dóceis neste confinamento
sabes, querida
calamidade nos braços do vento
entrou na idade do templo perdido
naquele balaio escondido
mas sairemos desta madrugada
navegada em mãos da alvorada

(créditos fotográficos de Anabela Carvalho)

Era um dia sem ninguém
era um dia sem ninguém
e a terra ardia
no silêncio que em todo o mundo se ouvia
um silêncio mais tremendo
mais profundo
bem maior que o tamanho deste mundo
só brilhavam no céu
umas estrelas
que ainda ontem por lá não as havia
e brilhavam tanto mais
por cintilarem
no mais negro universo e mais profundo
no entanto
o seu brilho anunciava
que outro dia a nascer acontecia
certo dia plantei uma metáfora
no húmus de vaga ideia
que sem saber me aflorara
adubei-a a réstias de inspiração
e protegia-a de agruras de ventos crus
ou de fera maresia
quando vi que enraizara
enxertei-lhe um soneto lento
de rima cadenciada
a meia altura da base
até um ponto incerto
algures entre o desconhecimento
e coisa nenhuma
só para ver se florescia
cerquei-a de vivências torpes
de mal-queridas verdades
de atropelos e más sortes
mas também de três sorrisos
um de papoila
outro estrela
e outro de ouvir o mar
onde o tempo esmorecia
e quando chegou Abril
já muitos anos depois
de um tempo de clausura
vi a aventura crescer
direita ao céu
perturbante
em cada folha uma pena
em cada fruto um poema
e Abril acontecia.


A IMORTALIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA
APONTAMENTOS AVULSOS DE UM CONFINADO POR MOR
DA VIGENTE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA SANITÁRIA III
TERCEIRAS ANOTAÇÕES
EM MODO DRAMÁTICO-INTIMISTA E QUASE-METAFÍSICO
As atrocidades em potente latência e aqueloutras já causadas em todos os continentes pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e pela COVID-19 e de que vamos dando conta e tomando mais exaustivo conhecimento através das notícias (são já mais de trezentos mil mortos em mais de cinco milhões de infectados, afora os assintomáticos não testados), sendo já comparáveis aos morticínios provocados por guerras localizadas, de grande ou média dimensão, ou por grandes fomes a nível continental e mundial, às mortandades provocadas pelas secas e estiagens e pela incúria do poder colonial no nosso antigo e famigerado arquipélago da fome, e por outras tragédias históricas e catástrofes naturais (ou naturalizadas) que assolaram o nosso vasto e lato mundo, nele incluindo o martirizado povo das nossas ilhas, primam por uma característica sui generis: o silêncio e a sigilosa intimidade na morte que envolvem as suas vítimas, a pouca ferocidade aparente com que labora o agente da morte, a relativa baixa abjecção que a sua aparição pública suscita nos sobreviventes (afora, é claro, os parentes e amigos próximos e/ou mais chegados) e a diminuta repugnância dos cenários fúnebres, se comparada com os cenários de morte de outros, passados, surtos epidémicos e pandemias, tais a peste bubónica (também chamada peste negra), a cólera, a malária, o paludismo, a tuberculose, a varíola (também chamada bexiga), o sarampo, a gripe suína, a peste bovina, a gripe das aves, a gripe espanhola, a doença do sono, a febre amarela, a febre zica, a icterícia, a difteria, o tifo, a sida, o ébola, o dengue, os coronavírus (os antigos e o novo, dos tempos de agora, com as suas novíssimas mutações) e outras pragas infecciosas que hão-de vir com os vírus, os bacilos e outros invisíveis inimigos transmissíveis pelo mero acto de respirar, de falar e de tocar pessoas, bichos e objectos, e outras forças da natureza que hão-de irromper com os micróbios, as bactérias, as secreções anais e vaginais, os ratos, as pulgas, os mosquitos e outros parasitas, e outros seres predilectos da sujidade, da insalubridade, da promiscuidade, da pobreza extrema e da miséria, servem também para nos relembrar, enquanto seres humanos falíveis, da nossa muitas vezes impotente, conquanto amiúde vaidosa e jactante insignificância num mundo indiferente à miséria e às gritantes desigualdades sociais, e a inexistência em vastos espaços do nosso mundo globalizado das condições necessárias e suficientes para a condução de uma vida humana digna, livre da pobreza, da doença, do medo, da ignorância, da discriminação e de outros muitos malefícios e infernos do subdesenvolvimento e da opressão.
Talvez porque no caso vertente se trate de um inimigo invisível que, como nos casos de outros conhecidos coronavírus, se propaga no ar e tem na própria respiração humana (ou, melhor, nas vias respiratórias das criaturas humanas), nos espirros, nas gotículas de saliva e em outras secreções mucosas o seu foco e o seu veículo difusores e obriga, nos seus efeitos e repercussões imediatos enquanto foco e veículo de contaminação e da morte (o seu sempre possível sucedâneo) à invisibilidade no quotidiano dos espaços públicos das suas potenciais vítimas, por via do seu confinamento preventivo ou profiláctico no mais íntimo e privado dos lugares, o lar, locus da domesticidade, baluarte da salvaguarda da intimidade da vida privada (agora levada ao extremo, também na morte e na despedida fúnebre, na ausência de verdadeiras e públicas exéquias e cerimónias mortuárias), lugar de reprodução da família e das suas alegrias, de congeminação dos seus projectos individuais e colectivos de uma vida feliz, de troca das mais inconfessáveis confidências e de selagem de muitas outras cumplicidades privadas, mas também lugar de saturação dos laços conjugais e familiares e, assim, de germinação dos seus conflitos e da sua possível derrocada enquanto loca da família.
Deste modo, o silêncio, de todos visível e a todos audível e apreensível, parece ser a atmosfera mais característica do actual surto pandémico.
Silêncio nas ruas, nas alamedas, nas avenidas, nas praças, nos jardins, nas escolas, nas universidades, nas repartições públicas, nos restaurantes, nos quiosques, nas igrejas, nas mesquitas, nas sinagogas e em outros lugares de culto, nos botequins e esplanadas, nos cinemas e teatros, nas praias, nos estádios, nos recintos de espectáculos, nos santuários, nos amplos relvados e em outros recintos abertos para a realização de comícios, de missas campais, de festivais de música e de outras grandes, festivas e altissonantes aglomerações de pessoas.
Silêncio em todos os lugares de exposição pública e privada dos corpos, das almas e dos espíritos, propiciando infinitos tempos de meditação adentrados no confinamento desse sucedâneo de prisão domiciliária em que, por vezes imaginada, se tornou o lar, esse útero da casa de cada um, e no qual os companheiros de cela são os parentes mais chegados do núcleo familiar mais restrito e/ou da família alargada, consoante as circunstâncias de cada um, da sua opulência, da sua riqueza, da sua mediania, da sua normal ou extrema pobreza de meios de condução da vida quotidiana, dos hábitos e tradições da sociedade em que vive e/ou cresce.
Propiciador de calado e ansioso temor, de desviantes e aterrorizadas atitudes (mesmo se pautadas pela discrição) em face do outro, visto sempre como eventualmente contagiado, e tornado ainda mais suspeito na sua potencial ameaça e latente periculosidade porque virtualmente infectado por um vírus invisível nos seus sintomas e nas suas marcas exteriores, como nos casos mais evidentes dos assintomáticos ainda não detectados e com a actual obrigatoriedade, ainda que somente cívica em Portugal, salvo as devidas excepções dos casos do uso obrigatório de máscaras, o silêncio que rodeia e acompanha a insaciável voracidade da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e da COVID-19 torna-se ademais mais virulento porque indelevelmente marcado pela paciência.
Não sei se por mor de uma paciência chinesa, neste concreto circunstancialismo ainda assim, e mais uma vez, pejada de sabedoria em face, por um lado, de uma certa e pouco prudente pressa com que alguns vêm encarando a chamada reabertura da economia numa sociedade de mercado marcada pelo consumismo e pela intrínseca necessidade da correlativa contínua expansão da oferta da produção e da procura dos consumidores e dos advenientes ganhos e lucros, aliada à obtusa e abstrusa celeridade (também no sentido próprio psiquiátrico de loucura varrida de celerados, isto é, de seres humanos também céleres na difusão das suas pouco sensatas e potencialmente genocidas acrobacias mentais) de alguns políticos tresloucados nitidamente de má memória futura e, por outro lado, a lentidão com que marcamos os passos nas filas dos mini (e super) mercados, das farmácias, dos mercados e feiras municipais, dos autocarros, dos restaurantes e cafés take away e de encomendas domiciliárias alinhavadas do fundo solitário e apto para a sobrevivência do confinamento, das padarias (incluindo as agora tornadas epidémicas Padarias Portuguesas, se bem que também os benfazejos quiosques de distribuição dos jornais e das revistas da nossa predilecção, tão imprescindíveis agora na melhoria da literacia sanitária dos cidadãos e no combate sem tréguas aos fake news, por vezes equiparados, na sua capacidade danosa e na pretendida criminalização da sua disseminação, aos antigos e convenientes boatos e rumores dos tempos de outrora, no agora relembrado antanho severamente punidos).
Essa mesma lentidão com que nos demoramos nas leituras e nas reflexões sobre as muitas e sempre surpreendentes voltas que o mundo dá e dá ao mundo nosso circundante privado, nos augúrios sobre o que nos anos vindouros há-de vir nas nossas ilhas, no nosso continente, no nosso comum mundo do planeta Terra, da trágica, mortífera e actual comprovação da sua natureza como a nossa casa verdadeiramente comum, de todos os seres humanos sem excepção, com as infecções e os morticínios provocados pela planetária e universal disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e da COVID-19 e com a anunciada e indesmentível crise económica e social do gradual e muito cauteloso pós-desconfinamento e da pós-pandemia dos tempos vindouros …
Mas também dos eventuais planos B, C, D, etc., a serem congeminados, caso efectivamente vier a Humanidade a confrontar-se com uma Guerra infinita ou de muito longa duração por impossibilidade de se encontrar uma vacina para, fora dos laboratórios de virologia de alta segurança, erradicar e extirpar o vírus, e finalmente, e, de forma longeva e duradoura, curar a doença.


com vergonha de ser homem.
Vergonha de ter posto o cadáver
do colono na minha cama.
Vergonha de ter bajulado
pra ser hoje o grande profeta
da minha própria ressurreição.
Vergonha de ter cuspido
na cara de um anjo mendigo.
Vergonha de me ter prostituído
em nome da amizade.
Vergonha de me ter calado
na morte do inocente.
Vergonha de ter erguido
estátuas a quem sangrou
a esperança de um povo.
Vergonha de ver como Trump
fatiga demais Xi Jin Ping
por causa da economia.
Vergonha de ver como os sírios
se comem com unhas e dentes
afiados pelas potências
que desgovernam o mundo.
Vergonha de ver o Ruanda
vender o coltan dos zairenses
para eu escrever meus poemas
em directo no Facebook.
Vergonha de ver os filhos
de África no porão
do barco negreiro outra vez.
Vergonha de ver os políticos
darem o ar de outra graça
desde que entrou em Angola
o Covid dezanove.
Eu sinto tanta vergonha
que nem quero me ver ao espelho
da cara do meu irmão.
Eu sou o único homem
com vergonha de ser homem.
GRITAR POESIA EM TEMPO DE COVID-19
Em tempo de Covid-19, impõe-se, com a maior das impaciências, uma reflexão sobre a Cultura global, e sobre as Artes em particular, pois que são as Artes a ponta mais expressiva do Kilimanjaro cultural.
Da parte que me toca, a Literatura, da qual sou cultor, direi que o tempo de confinamento é uma excelente prisão, portanto, abre-se o coração para fazermos aquilo que o tempo normal, a rotina diária – serviço-casa, casa-serviço – mais os deveres socialmente úteis nos impediam de praticar. Deus pôs a mesa aos poetas e romancistas. Sirva-se o manjar de palavras!
Um manjar pronto a ser degustado nas redes sociais – Email, WhatsApp, Youtube, Facebook e outros tubos electronicalíricos, porque a apresentação de obras em eventos públicos está provisoriamente interdita. Assim como interdita está também a impressão do livro. Uma penosa pena de penúria bibliotecária.
Este estado de coisas não obsta, porém, a que se exercite a nossa inicial pronúncia lírica, à entrada da caverna Neolítica, lugar onde começaram as artes plásticas e a arte de cantar e contar. Advogo, pois, o retorno definitivo à Oralitura, ao grito, não apenas esse grito aterrorizante de Edvard Munch, mas todo o conjunto, o de terror perante a fera besta imaginária, num verso poético que ataque o comércio da alma nestes tempos de hiperconsumismo e de desumanos corpos gerentes da sociedade, o grito de vitória perante a besta-fera dente de sabre, o grito de paixão, o grito de dor e pena, o grito silencioso dentro da alma pensante debaixo de um céu estrelado, enfim, todos os gritos do sangue humano.
Comecei a exercitar esse universo de gritos da poesia dos nossos ancestrais e o resultado foi a família me olhar com desconfiança, pensando que agora é que o Zé Luís está a ficar desaparafusado pelo confinamento, é normal nestes casos um artista perder a noção do sensato, embora tivesse prevenido esposa e filhas. De modos que desci ao quintal da casa e, lá fora, comecei a dar os meus gritos, como num festival de Spoken Word. O resultado foi alarmar a vizinhança. Pum-pum-pum, bateram no portão, a mulher foi abrir, Ó vizinha, o vizinho Zé Luís está doente? Gargalhadas. Não, vizinha, a vizinha sabe que ele é poeta, está só a treinar prá quando o Covid acabar, vizinha. Ah, está bem, mana, pensei…
Ponto de ordem: saibam os leitores ocidentais que, aqui em Luanda, vizinho é família, é intruso na nossa quase intimidade, não estranhem, pois.
E agora, José?
Agora, camaradas da pena, concluí que a Lei do Eterno Retorno, tão querida dos antigos filósofos indianos e egípcios e até dos judeus do tempo de Moisés, sem descurar Pitágoras e os estoicos gregos, para emergir no século XIX, com o autor de Assim Falava Zaratrusta, o não menos genial e louco Friedrich Nietzsche, é lei universal. Vejam só como voltaram os cortes de cabelo à Viking, mais as suas extintas tatuagens da cabeça aos pés, para não abrir o cinto e mostrar tatoos em lugares de intenso odor passional e erótico, vejam o retorno da tortura sem quartel e da peste negra.
Estou com Zaratrusta (aliás Nietzsche), que traçou esta norma: “os homens não têm de fugir à vida como os pessimistas, mas como alegres convivas de um banquete que desejam suas taças novamente cheias, e dirão à vida: uma vez mais”.
É que estamos a viver um tempo de euforia publicista. Todo o mundo, mesmo os que não têm sensibilidade para a Arte, estafam-se para publicar um qualquer escrito. O importante é aparecer com o rótulo de escritor. Sabe-se, de antemão, que muitas das pessoas, amigos, familiares, curiosos, pagam o preço do livro no lançamento, depois arrumam-no num canto da casa e nunca, mas nunca mesmo, o leem.
Estamos pois, a viver este tempo altamente contraditório, em que quanto mais se publica, menos se lê. Uma vez mais, dizemos a vida através do Spoken Word, a poesia futurista. Uma vez mais, todo o poeta que se preze deve ser capaz de defender, oralmente, a sua arte.
Isto não cheira ao suor criptogâmico das cavernas da Idade da Pedra Polida? Estamos, ou não, a retornar à era primitiva do grito? O Covid está aí para o confirmar, meus camaradas!




Texto de José Nascimento (Brasil):
Sei escrever, sim, mas prefiro falar, é mais fácil para mim.
Ainda me sinto confuso. Não me lembro de algumas coisas, delegado.
Nunca tive armas. Não, senhor, não uso drogas. Experimentei maconha e não gostei. Meu vício é uma cachacinha.
Por volta das três da manhã daquele domingo, o barulho de uma porta de carro sendo fechada me acordou. Fazia muito frio. Mendigo tem sono leve. Fome, sede, susto, dor, acordamos por qualquer motivo. Em seguida, escutei uns passos se aproximando e movi a mão por baixo do lençol até encontrar o punhal. Não se pode confiar em alguém que desce de um carro e caminha de madrugada.
Senhor, apareceram dois sujeitos. Não me lembro bem da fisionomia deles, sou ruim de memória e enxergo pouco. Pararam na calçada onde eu estava e derramaram em mim o líquido de uma garrafa. Parecia álcool. Disse, nervoso, para me deixarem em paz e apontei o punhal. Usaram um isqueiro para atear fogo no meu corpo e rapidamente virei uma fogueira. Pulei de dor, era um inferno. Não imaginava ser possível sentir tanta dor. Rolei no chão, mais por instinto do que por reação mesmo, tentando apagar o fogo, e berrei por socorro. Pensei que iria morrer.
Acho que desmaiei. Não sei o que aconteceu depois. Me contaram que alguém chamou uma ambulância.
Perdi os documentos. Não tenho filhos. A mulher me roubou e me abandonou alguns anos atrás. Não tenho parentes. Meus pais são falecidos. Sozinho, delegado. Ser humano se acostuma com tudo. Eu sabia que poderia acontecer, não sou o primeiro nem o último, mas quem iria adivinhar? Consigo assinar, sim.
As feridas não param de coçar. Não sei o que fazer quando receber alta, tenho medo de dormir na rua de novo. Aqui no hospital, apesar do corpo machucado, já consigo comer e tenho cama para dormir. Só não me deixam beber. Os médicos me falaram que uma doença obriga as pessoas a se manterem distantes umas das outras e com máscaras, mas não sei se a notícia me assusta.
Agora que todas suas perguntas foram respondidas, delegado, me desculpe, preciso ficar sozinho por um momento.
NÃO SEI QUANTO É SETENTA VEZES SETE
Bebo quase diariamente, senão fico nervoso. Às vezes, bebo tanto que a pressão sobe e passo mal. Dias depois, me arrasto de novo à procura de algum bar para repetir a bobagem, como se expor minha miséria de homem fosse um dever. Passei dez anos sem beber. Vivia para a família. A demissão, o desgosto por ter o carro tomado pelo banco e o relacionamento de Natália, minha filha, com um homem casado me fizeram retornar ao álcool. Não consigo perdoar Natália. É mais forte do que eu. Não sou santo, não é isso. Mas não consigo. Por outro lado, reconheço que exagerei ontem no bar de Juarez, um amigo de infância.
Além de Juarez, um sujeito desconhecido bebia comigo e me ouvia com certa atenção. Eu me sentia tonto e não conseguia mais beber, apesar de manter dicção razoável, uma das coisas que a bebida não me rouba. “Foi expulsa de casa por mim mês passado... não merece mais ser chamada de filha. O único fruto que tivemos. Bem-educada. Não tenho culpa. Juarez, uma infelicidade... sacudi suas roupas fora. Não tem mais pai... a vizinhança nos incomoda com zombaria. Virgínia anda mais triste do que eu, acredita? Chora por mim, chora pela filha.”
Creio que os demais beberrões não me davam ouvidos. Afinal, era só mais uma conversa de bêbado que não sabia beber. Juarez retirou a garrafa vazia. “Roupa suja se lava em casa.” Com dificuldade, me movi para fora do bar. “É verdade, Juarez. É meu defeito, começo a falar e não paro mais.”
Não acerto sempre o caminho de volta para casa e uma calçada, um banco, qualquer canto meio abandonado à noite me serve de colchão. Me conformaria em dormir na rua. No entanto, a minha esposa costuma me procurar nos bares quando passa das onze e me encontrou na metade do percurso. “Juarez não deveria abrir o bar e você não pára de beber.” Pedi uma pequena pausa para vomitar. “Virgínia... não brigue comigo. Não aguento mais ficar confinado o tempo inteiro. E nunca saio sem máscara. Não se preocupe.” Mesmo muito irritada, ela me ajudou a caminhar e tentou disfarçar como pôde minha embriaguez. Por sorte, não vimos nenhum vizinho. “Precisa entender de uma vez que o correto é permanecer em casa.”
Virgínia esquentou comida para mim. Eu não quis. Comer iria me fazer vomitar mais. Dormi até o início da tarde de hoje. Ela encontrou uma garrafa de bebida escondida na bagunça do guarda-roupa e me acordou. “Você quer beber até morrer?” Ainda atordoado, fiquei calado por um momento, pensando em uma resposta. Ela não entende. Se tenho uma boa bebida diante de mim, esqueço o mundo parado, a contagem de doentes e problemas mais particulares. Em casa, é impossível. Virgínia não me deixa beber em paz. “Não me lembrava da garrafa. Juro. Por favor, não seja dura. Não me lembrava.” Eu a olhava e a achava tão bonita e tinha vontade de lhe dar um beijo, mas não sabia como. Sem me olhar, esvaziou o conhaque na pia. “Natália quer voltar a morar aqui. Não acha que já é hora? O que aconteceu, aconteceu. Ela é nossa filha.”
Fingi não ouvir. Me perguntava onde esconder as próximas garrafas.
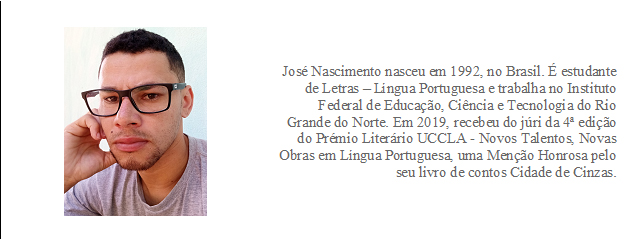

Texto de José Pinto (Portugal):
VENCERIAM UM FOGO COM FOGO, UM INVISÍVEL COM INVISÍVEL
O que é distanciamento social?
Prometeram beijos paternalistas mas o invisível estalou. Não há tempo para makeup, no precipício. É ao natural. Uns líderes encetavam fugas heroicas para o mistério, outros profetizavam desgraça, da qual, viria a descobrir-se, afinal não haviam saído. Atravessaria a rua, onde muitas vezes viu os dois submersos um no outro, entre o último raiar do sol, a primeira queda para a noite e a luz amarelada do candeeiro da rua onde ela mora. Alheios, o rapaz costumava conversar com ela e os dois sorriam nos olhos um do outro. Ela não descia o degrau da porta de casa para o passeio mas a dada altura achou-os abraçados. Atravessava a rua pelo passeio oposto, com passos rápidos e olhos no caminho. O medo é um regime. Depende do que se acha que se tem a perder. Ontem, depois de transes sucessivos para pagar, decretado o isolamento social, atravessa a rua de todos os dias pelo passeio oposto, com passos rápidos e, pelo canto do olho, vê que ele e ela estão à porta de casa dela, ela em cima do degrau, os dois submersos em conversas ondulantes e risos cósmicos, alheios.
(21 de março de 2020)
CABO VERDE TEMPORARIAMENTE FECHADO
esticar a rocha
à calma lonjura
de uma raiz
de onde vertem
sóis em flor
desvanecidos no tempo
que virá feito árvore
(19 de março de 2020)
Avanço pelas ruas de Europa. Aqui, o desejo é realizado num estalar de néons e só tem de seguir os hologramas que são projetados dentro da íris. Olhos abundam no meio do ar e cheira a nostalgia sebastiana, anunciando o fim dos pássaros no peito: são eles que guardam os museus e trocam diariamente de turno com os cães. A calçada esventrada pro sol contido no seu pico vinte e quatro horas sobre vinte e quatro horas, na cidade onde a noite não há. Limpam os passeios e as estradas, esterilizam corações, como sorrisos plastificados por máquinas espectrais alimentadas a emoções. A expressão é sinal de cosmos derramado no brilho metálico dos pequenos jatos intimistas. Também há jatos de grande porte, em particular para os fora-de-era – explicara-me um funcionário público que outrora lhes chamavam “atrasados para o trabalho”. O funcionário explicou-me aquilo através de uma aplicação exclusiva para residentes e visitantes de Europa. Ninguém verbaliza com ninguém e tudo se passa entre smartphones. Introduziram a lei do não diálogo, após tentativa de revolução de uma minoria que se encontrava em segredo debaixo da cidade, tirava as máscaras e conversava sobre ética e flores. A aplicação deverá ser descarregada depois de receber o visto de visita e obrigatoriamente antes de passar a fronteira para a cidade. Nada é secreto, tudo é visível na memória mantida em dezenas de elefantes especializados em receber e guardar informação, numa colaboração nunca antes vista entre humanos e animais. Chegado à fronteira para entrar em Europa, deram-me um afago no cabelo e uma máscara de cavalo preto, que de imediato coloquei. Ninguém tira as máscaras. Justificam a lei, dizendo que é para resguardar o eu-universal e em troca de mensagens com os residentes no chat, percebi que uma vasta maioria dá a entender que a empatia é o inimigo número um da tecnocracia. Os cheiros fortes, antigamente característicos dos grandes mercados e bazares de Marrocos e da Turquia, são produzidos em laboratórios construídos para o efeito e libertados no ar de trinta em trinta minutos. Há oito horas que percorro as ruelas de Europa e a fadiga começa a entranhar-se no nariz, até que observo um holograma de vários metros que me recorda a primeira vez que senti vida nas veias e nas artérias. Percorro semiconsciente o caminho até à porta por baixo da jovem que dança e olha pros meus olhos, pela fresta da máscara. Bato à porta e pedem-me que tire a máscara e mostre o meu eu-universal. Peço para entrar. Em troca, pedem empatia: a única forma de pagamento.
(Reportagem literária, 6 de fevereiro de 2020, experimentação em oficina orientada por Luís Carmelo)
MORNA PARA UM MUNDO
De costas suadas para o Montara, lavava a roupa numa piscina natural. Voltou-se e perguntou à montanha se NÃO ERA SUPOSTO VIGIAR ETERNAMENTE HOMENULHERES, PARA QUE A TRAGÉDIA NÃO SE REPITA. Ah ah ah, riu um homem mascarado de Platão, enquanto se aproximava delas. Se o vulcão entrar em erupção, kel primer koza k tá bai é sê nariz, disse uma companheira. Escutava Platão com o assombro de quem assiste à telenovela: o Benfica ganhou quatro zero, dizia ele, um emproado, só porque o seu clube favorito havia ganho o campeonato. Tal coisa, respondeu-lhe, acrescentando que descendentes de Atlântida importam-se com sabedom, trabork e paciênce. Daí a riquezância, rematou. Suspendeu a respiração e concluiu, observando a cidade, que homenulheres se haviam tornado indolgent, orgulhoud e fratricide. E quanto mais ardia, mais o Montara a transformava em rocha e nham! Platão Platão, gritou pra ele, vem XXXXXXXXXXXX.
(Paródia mimética de James Joyce, 19 de dezembro de 2019, experimentação em oficina orientada por Luís Carmelo)


Texto de José Pires Laranjeira (Portugal):
ao jeito de BB
Ainda estamos vivos
no bairro de onde não saímos.
O sol queima
sem a dor da noite. Que esplendor!
A chuva rítmica
sob os cobertores
de tamborilar
a língua
como é benquista.
E é isso que conta
ou que canta.
Alguns bisavós andam por aí
completos
incomensuráveis
como quando não havia
grandes novidades
na música e no mais
da calmaria.
Mas têm falta de ar e couves
em altos quintais
suspensos e perfumados
pela tuberculose.
Os pais dos ancestrais
já não moram cá
e ninguém ilustrou
os seus olhares delicados
no murro da memória.
Cortamos as mãos às biografias
e nada acontece.
Apenas alguns retratos
esvaídos em cinzento
e o sorriso do foguetório ritual.
Não queremos não
não queremos
mas aqui na margem insistimos
sentados
a tarde inteira
a vida toda
sem remédio.
Seguimos sem saber.
Ninguém no outro lado sabe.
A vizinha portanto
não sabe
porque de súbito chora.
Esqueceu tudo lá atrás
e agora sozinha
pensa mal. Não pensa
mesmo nada.
Alguém se aproxima devagar
com muito medo de chegar.
Não há ruas. Já se sabe
mas pouco importa
porque a intriga se repete
sem intriga.
O zero existe. O nada não.
Não há ninguém. Apenas médicos
e engenheiros mentais.
Não há nada.
Mas o zero existe
igual
ao infinitamente nada.
Apenas palavras lentas
e flores de circunstância
desfolhadas sem nexo.
Como um filme negro
infinitamente branco.
Como a garganta com musgo
e os olhos moídos
como vidro
ou como se a terra apodrecesse
comovida
pela lancinante levadeza.
Morrer só
de só morrer
e mais nada.
Nada mais.
Mas os netos ? Será que escrevem?
Tenho muitas dúvidas.
A ave que voou do egito
pernoita
e não vai a bar nenhum
há quanto tempo
porque ninguém vai.
Perdeu a noção de ser
e nunca mais se alevanta
nunca mais
das colheitas do alentejo.
Não vamos a rio nenhum
sem saber se há turismo.
Não digas nada ao Edgar
absolutamente nada
a esse grande filho de uma cadela!
Sujeito perigoso de todos os poemas
que serve apenas ao poder
de abocanhar
o nosso desejo
a desejar.
Vamos ao egito piramidal
vamos ao egito.
Vamos lá desanuviar
com chuva ensolarada
e felinos negros
ancestrais.
Vício das maravilhas
vírus da vida à luz do nilo
que o buraco negro inspira.
Vamos lá sair daqui.


Texto de Juvenal Bucuane (Moçambique):
Nunca pensei
que a minha boca,
o meu nariz,
os meus olhos,
fossem as entradas prediletas
do Templo
aonde um rei impostor e invisível
vai fazer sem se ajoelhar
as suas rezas satânicas
no grande altar que são os meus pulmões!
Pensei que a minha boca
fosse o grande transmissor de mensagens de bem;
das grandes e boas novas
que as pessoas querem ouvir;
que o meu nariz,
sensitivo meio olfativo,
fosse o príncipe dos cheiros aromáticos da natureza;
dos eflúvios vitais que o mundo emana
e os meus olhos
fossem as janelas amplas
que me permitissem apreciar
as belezas naturais do mundo!
Equivoquei-me!...
Eles são, afinal,
a porta funérea do meu corpo,
este Templo das virtudes divinas;
eles são a esteira rolante pela qual
o mafarrico entra para destruí-lo.
E estas mãos
que sempre as elevo em oração a Deus;
com que cumprimento os que me rodeiam;
com que abraço em aconchego,
todos os que amo,
são, afinal,
os alcaides do Templo
que livremente deixam passar a morte!...
ANJOS DA ESPERANÇA
(Aos médicos, enfermeiros e todos os auxiliares da saúde)
Quem são esses,
sem relógio no pulso
e muitas vezes sem rosto
que a toda a hora,
minuto e segundo,
dão de si,
esquecendo-se que têm lar;
fazem dos outros
a aposta da sua vida!
Quem são esses iluminados
que manejam os meios de vida
às vezes de escafandro trajados
para assegurar a imparcialidade,
também, a imunidade,
senão os nossos anjos da esperança!
Não são anjos virtuais,
não têm asas de luz
que os elevem ao céu
e dele os desçam
São, simplesmente,
gente igual à gente...;
os sacrificados da nossa travessia pelo mundo!


Texto de Kátia Casimiro (Guiné-Bissau):
Lavar as mãos, lavar a alma e lavar o coração
Promovendo a higiene, a serenidade e a oração
Maldito vírus, sem princípios
Sem nenhuma educação
Chegou, entrou, não avisou
Todas as portas arrombou…
Do oriente ao ocidente
Do norte para o sul
Foi ocupando a casa toda
Sem diplomacia, completamente nu.
Lavar as mãos, lavar a alma e lavar o coração
Não temos outra alternativa
Não existe outra solução
Como se ainda não bastasse,
Todo o mal que nos causou
Ainda exigiu a solidão, pois a todos isolou
De onde vem, para onde vai?
O que nos quer ensinar?
Além de lavar as mãos, lavar a alma e lavar o coração ?
Parece que veio nos lembrar
que somos todos um povo irmão
Nem o crente, nem o ateu
Nem o pobre, tão pouco o rico
Conseguiu prever esta sina
Em que este tão maldito vírus
A todos intimidaria
Nãohouve raça nem cor que lhe pudesse enganar
Este vírus não quis saber de nada,
Veio mesmo para matar!
Seja alto, seja baixo
Seja gordo ou seja magro
O melhor sempre será
Lavar as mãos, lavar a alma e lavar o coração
E ajudar o meu vizinho que afinal é meu irmão.
Este vírus de nome corona
Sem timidez, sem humildade,
Com muito pouca vergonha na cara,
Também é mesquinho e malandro
Não mostra forma nem cheiro
Não presta para nada!
Lavar as mãos, lavar a alma e lavar o coração
Ficar em casa, parar o mundo,
Para travar o que de mal vem
Só repetimos a frase,
em que temos de acreditar
Isto um dia vai passar,
Vamos todos ficar bem!
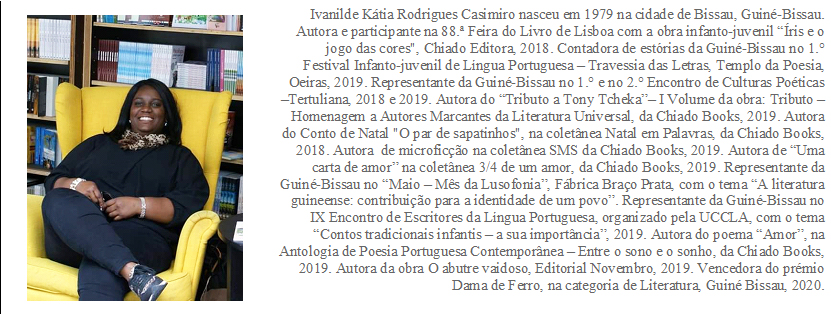

Texto de Lídia Jorge (Portugal):
A LÍNGUA PORTUGUESA
Resposta aos estudantes da Universidade de Genève
Cada língua tem o seu corpo e o seu espírito. Basta pensar que entre a língua espanhola e a portuguesa é grande a coincidência semântica, sintática e morfológica, mas na fonética e na expressividade verbal são duas línguas muito distintas. Cervantes disse que a língua portuguesa era o espanhol sem ossos, Español sin huesos, certamente porque a considerava uma língua modulada, de textura suave. Trata-se de uma síntese muito interessante. É que o castelhano avança para o final das frases galopando, como um cavalinho. O cavalinho da língua espanhola trota, avança triunfante por entre as frases, e o português ondula, como se os seus ossos fossem feitos de água. Acho muito curiosa essa expressão de Cervantes. Já com o francês a comparação é outra. Línguas mais afastadas entre si, dentro do espectro das línguas românicas, a língua francesa tem jardins de Versailles dentro dela. É geometria, racionalidade, compostura, altivez grave, feita de pompas triangulares. Basta pronunciar Allons enfants de la Patrie…, para se sentir essa esquadria dentro da qual existe um camponês que tem alma de rei-sol. Mesmo falando de vacas e centeio, o francês é pronunciado a partir de um palácio. O português é marítimo, e é rural, do campo e da igreja, a igreja de granito ou de cal, e não tem palácio na sua estrutura, tem palheiro e flores silvestres. Heróis do mar, nobre povo/ Nação valente e imortal? Boas intenções, as do seu hino. Mas a língua portuguesa não acredita na nobreza nem na bravura. Acredita só na terceira categoria, a imortalidade. É uma língua feita para cantar melodias mansas, transcendentais – Vem saber se o mar terá razão/ Vem cá ver bailar meu coração... Estamos a falar das línguas latinas, que têm menos vocábulos do que a língua inglesa. Pensemos então no inglês e no português. Este livro em inglês teria menos um quarto das páginas. Porquê? Porque o inglês tem mais vocábulos que o português, bastantes mais. O português, para as mesmas ideias, precisa de encontrar metáforas. Como a metáfora exige muitas palavras, o texto torna-se mais longo. Mais longo em português do que em espanhol. O espanhol tem mais palavras do que o português. Para sermos francos, a língua portuguesa é maravilhosa, mas não podemos mentir sobre o seu número de vocábulos. Nós temos menos vocábulos do que os espanhóis, menos vocábulos que os franceses, menos vocábulos que os ingleses. Mas, em compensação, temos agilidade na criação de expressões. E, nesse campo, ninguém nos bate, a língua portuguesa é mais criativa do que a língua francesa e a inglesa, porque estamos treinados para a metáfora e, por isso, o português é eminentemente poético e transfigurador. Esse é o segredo da nossa riqueza expressiva. Este tipo de linguagem explica que a nossa escrita literária seja litúrgica e repetitiva. Os textos dos portugueses, dos melhores escritores portugueses, são textos repetitivos. Vejam, por exemplo, José Saramago como repete. Também Agustina Bessa Luís repete. Lobo Antunes, repete, repete... Quer dizer, há construções nas páginas dos escritores portugueses que parecem orações. Na escrita portuguesa há alguma coisa de tautológico, o vício do emparelhamento, como nos textos religiosos. A nossa poética é repetitiva. Os nossos livros são repetitivos. Alguns deles deliciosamente repetitivos. Quem usa a língua portuguesa sabe que a repetição é a forma de declarar que nenhuma língua tem os instrumentos necessários para exprimir a totalidade do desejo. Então, podemos e devemos repetir à vontade. Como não amar esta língua?

(créditos fotográficos de Câmara Municipal de Loulé)

Texto de Luísa Fresta (Angola-Portugal):
— Trago um recado da Ceifeira
Sou o seu homem de mão
Ando de qualquer maneira
Mato a fome em qualquer nação
— Muito prazer senhor Esbirro
Chegue mais perto de mim
Sou a Pobreza, não espirro
Só tusso vagas tristezas [sem fim]
— O meu nome é Vírus, sou o devir
[Corona Vírus, muito prazer, na verdade]
Procuro um lugar onde dormir
Para me instalar na cidade
— Tem logo ali um mercado
Estava guardado o seu posto
Fique à vontade, é nosso convidado
Acomode-se a seu gosto
— Minha senhora, é profundo
O meu respeito e reconhecimento
Diga-me: como extrai deste mundo
Tão misteriosa dama o seu sustento?
— Ah, ah, ah, ah, descanse e espalhe
Veneno por outros mais desatentos
Talvez a sorte lhe sorria e calhe
Aos seus infaustos intentos
Saiba o senhor que eu vivo da guerra
Do desemprego e da exploração
Até o céu é dos pobres [donos da terra]
Ninguém suplanta a minha intervenção
— Como contrariá-la? Ou desiludi-la?
Talvez nos pudéssemos unir…
A humanidade anda cega — em fila
Vamos acabar o que ajudou a destruir…
— Não faço alianças com arrivistas
Reconheça o meu poder sobre a vida
Conheço à légua oportunistas
Campeões de ambição desmedida …
Nessa noite o Corona aconselhou-se
Com a patroa. — Essa Pobreza é atrevida
E refilona; mas ainda não me trouxe
Em vidas a dívida assumida
A partir de hoje viajas sem parar
Pelos turistas, pelos emigrantes
Pelos transeuntes, onde calhar
Pelas famílias pobres e errantes
Conhecerás a fundo todos os países
E entrarás também nas zonas abastadas
Cumprirás as ameaças e o que dizes
Mesmo nas mansões mais resguardadas
Corona Vírus acatou e engravidou mulheres
Contaminou homens de todas as línguas e credos
Conspurcou mesas, portas, roupas e talheres
Penetrou em caucasianas e berberes
Mas um dia acordou fraco e enjoado
Sem forças para entrar no corpo
De quem quer que fosse. Apagado
E inofensivo como um retrato morto
Um dos seus filhos foi o causador
Do seu torpor e decadência
[O vírus moribundo emudecido pela dor
Entregou-se, num gesto de decência]
O troféu que não soube conquistar
É da Pobreza e dos parceiros mais leais
Malária, Zika e Ébola voltaram a brilhar
Fotografados em todos os jornais


Texto de Madalena Brito Neves (Cabo Verde):
I
Um pincel à sombra, raio de luz
Dádiva! na estação
vidas marcando o compasso
à direita do ser, à esquerda do Tempo!
Templo no Tempo!
Do outro lado do ano, assim vaticinou Paz
Poeta
Dia primeiro, de celebração “in Peace”
Luzes – cores dançando aos pés d’ Racordai
Nesse instante sombra – cor – dor, vidas à margem
Na margem … vidas
Sons & Tons
Claro – Escuro SU KU RU
Tempo!
Giza na Djiza – tradiçon d’ Finaçon
Canto d’ Esperança!
II
Mulher de olhos rasgados
Nas cores do teu leque guardas força púrpura para
Grilhões quebrar e na dança colorida fazer renascer
Branco – alvo – dourado, o Mar.
Mulher bonita como Nova Sintra d’ Eugénio, na carícia do Mar
Fechada na Concha-Medo, na tua hora d’ aflição
Mulher-Mãe de muitos amores, teu colo
Adormeceu e, ao despertar, pétalas espalhou.
Mulher-Meninas, abraço do Atlântico
Sonho montado na ponte da tragédia, na tua cápsula
Descrença, desparamenta a sombra, soletra ondas
de grandeza, deixa ouvir galope de cavalos de felicidade.
Menina de Saia Colorida, encomendaram-te a Mortalha
Esqueceram-se de convocar o Poeta do Epitáfio à la Mer,
Mar que te Abraça e te chama
Mamãe!
III
Senhora das tempestades e dos mistérios originais …
Tudo em ti é surpresa Senhora do grande enigma.
Manuel Alegre (Senhora das Tempestades)
De Praia Town a New York City, noite passeia pela cidade
A carpideira de Balzac e suas irmãs … dormem de sono solto,
Encomendam com o olhar (os bolsos minguaram) e os gritos
Gritos
Lágrimas, djiza entoada, presente de um tempo ausente,
Um nome no silêncio ruidoso, entre nomes tantos
Silêncio bailando na pena do Poeta! com Ovídio perguntamos:
Quem morreu quando
A vala abriu os braços para acolher um mar de almas,
irmãs e irmãos, destino fechado na arca azul, dor fechada ...
“ Nôs tude morrê um c’zinha”
(Morreu um pedaço de cada um de nós)
Quem morreu quando
Ficou suspensa …a carícia na dispidida
“ Nôs tude morrê um c’zinha”
Quem morreu quando
Na solenidade da hora, palco cheio, taça d’azeite, ofertada com papel-sorriso na mão
esquerda, luminária levantada, na direita
“ Nôs tude morrê um c’zinha”.
IV
“…imaginem! …alguém se lembrasse, … de propor a constituição de uma comissão para estudar medidas de combate ao tempo, … ao Tempo … Para se viver sem Tempo, nem mais!”
Jorge Carlos Fonseca (O Albergue Espanhol)
Invisível, Indefinido, Indiferente
Ecos da perda, pedra suspensa à espera do Tempo
Templo
Lugar de Partida do Tempo
Supplicationes!
Coliseu! abriu o tempo, tempo Lamentazioni , preces à janela,
preghiere chiuse, Santa, Rainha, Deusa, nas preces, Súplica em nome dos … sem Nome .
Ano Novo fechado num casulo, fechado na Cidade Proibida, Museu de Silêncio erguido, em homenagem à
Senhora do Medo.
A castanhola despiu-se de ritmo e, no degelo do Palácio, segue passeando pelo Prado, frio & nos degraus crescem, quentes, palmas
no coração da Nação.
Torre, dois passos à direita, roqueou, na evocação da guerreira, luminária à procura de mãos certas, seta apontada à tristeza, que desliza, em direcção ao vazio Arco.
No Castelo d’ estória, desenhada, no ruído silencioso da praça, nos tambores d’ Cova da Moura, nos passos de Nhô Santo Amaro, no olhar do rio na hora d’ sôdade.
Na casta e na raça? Na cor da Dor?
Vila Morena, mensageira à janela das avós, entre a ideia e o olhar, em notas CêPêLPianas, Serena - Teia
M a m ã e V e l h a.
Peregrina no meio da cidade, pétalas – suspiro do passado
No compasso da súplica, movimento colectivo, olhar no meio do caos, Estátua! em busca do céu.
Matrochka perdeu a saia, na Praça sem cor, com o lenço vermelho-sangue guarda, no Samovar, o Tchai-quente, para entardecer Instantes da Primavera.
Opera, opereta, convés iluminado nos degraus da beleza, salto certeiro na magia da criação, troca as voltas ao esboço de drama e faz brilhar o amanhecer.
Na casta e na raça? Na cor da Dor?
A cidade dorme, rapsódia de silêncio nos pilares da ponte, na Central Station … Dinossauro empalidecido na presença ausente do bulício.
No Corcovado, de coração partido, de mãos estendidas aos génios da música e da história, performance trocada, no palco, trancada.
Na evocação do grito liberdadi! Número à janela da ilha, ergue-se a Voz-Profecia, que te indaga e te incomoda: [His day is Done?]
NEFERTITI – Rainha, do alto do pedestal, sorrindo para o raio de Sol, que ilumina o caminho para o Vale dos Reis, in Lockdown.
Na casta e na raça na cor da Dor?
Sombras de Shiva no ninho do DÔDÔ, que descansa à beira mar e soluça na saudade – segas.
Nas amarras da piroga, pedaços de rima, pintando o ponto de partida: Cabo na ilha, verde na raiz de um Sahel Atlântico.
Convento d’ STÓRIA, joelhos d’Europa, América, África pedindo a bênção a Nossa Srª do Rosário.
Coração da Ilha-Montecara, búzios da Machamba, ressuscitando nos pés D’Mandinga d’ R’BÊRA-BOTE.
Areia suspensa na gota cristalina, Swing d’ Me Too, rugido do Tempo, miragem de visitante na boca da Natureza a guardar o sorriso da Lua.
Na casta e na raça? Na cor da Dor?
Ecos no Templo! Lugar de Chegada
Do Silêncio a Si!
Tempo Supplicationes!
Silênciiio… Na Piazza
V
Quero sair andar
Gritar chorar
…
Pois o amanhã será de luta
E as forças não podem eterizar pelo caminho
Vera Duarte (Amanhã Amadrugada)
Pincel!
Estação – Luz!
Manto Azul, Azul imensidão
Azul, Assim …
Entram no Tempo End of SU KU RU
Deusas &Rainhas
Pés descalços, na Pedra Símbolo, Vida
Nomes
Graça, Maria, Luzia, Joana
Isabel, Fátima, Cize, Brígida
Yemanjá, Nácia, Miriam,
Pilar, Teresa, Tina, Amália
Nomes
Rainhas & Deusas
No aroma a flor de Lis, deslizam
Contam Dançam Cantam
Cantam Dançam Contam
A Dança da Deusa
Dança d’ Esperança
Deslizam Assim Azul
Azul, que desagua do lado
esquerdo do Tempo
Aberto!


Texto de Madalena Mira (Portugal):
Acordou sem saber onde estava. Espreguiçou-se e acordou outros como ele. Saltitaram cada um para seu lado deixando-se levar como se estivessem numa corrida onde nada era controlado por eles, mas que lhes garantia transporte.
Mãos, pés, roupa, carros e bicicletas, qualquer coisa lhes servia, e se havia bicicletas!, que apesar de não serem velozes como outros veículos eram seguras no caminho. Iam, e era quanto bastava. Ou nem isso, porque nem sabiam que estavam a ir.
Mas foram. Foram da Ásia para a Europa, América, África e Oceânia. Foram a pé e de avião, de carro e de barco. Foram a grandes cidades e a pequenas aldeias. E em todo o lado encontravam terreno fértil para se instalarem e reproduzirem.
Confundiram-se com a essência do mundo atual, em permanente movimento, e com a essência de mundos passados, colonizando, e transformaram o planeta num enorme desfiladeiro por onde passava uma invisível manada em debandada. Cegos perante classes sociais, surdos perante diferentes línguas de diferentes países e mudos na resposta a todas as preces, instalaram-se, criando o caos.
Ao longo da sua história a Humanidade não se lembrava de ter trabalhado em uníssono. Já tinha feito vários projetos em equipa, tomado decisões continentais, mas nunca se tinha ouvido o mesmo grito lançado dos diferentes fusos horários: Fica em casa, enquanto se rezava aos médicos.
Os presidentes, ministros e reis uniram-se fortemente ordenando o encerramento do mundo, que se fechou entre quatro paredes, numa ação comum que, se pensada anteriormente, dir-se-ia que todos tinham que estar juntos. E estavam! Mas afastados. Abandonaram-se os lugares de trabalho e as escolas, as fábricas, as empresas, as economias fecharam.
Os cidadãos agiram civicamente, numa atitude impensável, como quem fala baixo para passar despercebido, a gigante multidão cerrou portas para impedir a entrada a quem não viesse por bem e assim se mantiveram, sabendo que a proteção era mais vital que o colapso financeiro que se lhe seguiria.
O movimento que esvaziou ruas, praças e estradas, acotovelou-se nos wi-fis, o ar que se deixou de partilhar robusteceu-se, a água que se poluía cristalizou-se, e percebeu-se que muitas, muitíssimas tarefas podiam ser feitas à distância. A adaptação começou a ganhar contornos de transformação.
Porém, a vaga invisível torneava tudo e todos, escapava-se nos intervalos da chuva, sobrevivia em qualquer superfície e lançava uma febre miudinha, um mal-estar que, a muitos, não passava disso. A outros, matava-os.
A Morte, que andava sempre ocupada e desconhecia o significado de fins de semana ou férias, mantinha um negócio próspero, mesmo em épocas de poucas guerras, e havia uma ironia na sua existência que lhe causava até vontade de rir: ela, Morte, tinha vida eterna. Estava presente para todos, grandes, a quem chamavam adultos, e pequenos, a quem chamavam crianças. Não importava o tamanho, o peito subia e descia, ela chegava e o movimento parava.
De início não percebeu muito bem o que passava, mas estranhou a diminuição de trabalhos na estrada, não havia acidentes de sangue nas ruas, não havia criminosos à vista. Porém, os hospitais revelavam uma atividade invulgar.
A Morte estava habituada a lidar com surtos e a deslocar-se em velocidade fantasmagórica de qualquer lado para todos os sítios onde o seu negócio florescesse, sem deixar de atender a velhos em aldeias perdidas ou a novos em vielas escuras. Ninguém a queria, mas todos a tinham.
Via a Humanidade a agir de forma bizarra: batia palmas, elevava valores esquecidos, agia em sentida solidariedade, ponderava com cientistas rigorosos em várias línguas como se fossem vizinhos ou família, exigia rigor e ética, esbanjava precaução e cuidados. Fazia-se mea culpa, e compensava-se com empréstimos, ofertas, doações, perdões, ventiladores e máscaras.
A Morte, atenta, franzia o sobrolho com a quantidade de trabalho nos hospitais, com os carros pretos das agências funerárias a darem lugar a camiões brancos de refrigeração. Os mortos acumulavam-se sem funerais, sem famílias, lágrimas ou choros, embora se ouvissem à distância. Onde estavam as manifestações de saudade pelos desaparecidos?
Pela primeira vez na história da vida da Humanidade, a Morte entendeu que não tinha condições de trabalho. Cenários de guerra ou gulags eram locais concentrados, picos de atividade no espaço e no tempo, mas isto…
Com o mundo num caos económico e social, depressivo e angustiado, enlutado, mas unido, a Morte, cansada e determinada em voltar ao antigo patamar de trabalho, decidiu não colaborar na loucura que testemunhava, virou as costas à Humanidade e afastou-se arrojando o seu manto negro.
Nos dias seguintes, as portas abriram-se lentamente, e a Cultura, que tinha mitigado a distância com livros, música, com atores e protagonistas vários a cantarem, dançarem, interpretarem, tocarem para um mundo que os recebia através das janelas dos telefones, dos computadores e das televisões, saiu à rua abraçada às pessoas e a gritar Liberdade!


Texto de Manuel S. Fonseca (Portugal):
Em defesa do livro: não deixem o vírus matar Camões
Autores, editores e livreiros estão em perigo. Tolstói ou Dostoievski, Shakespeare e Camões, Camilo ou Eça vivem, como Portugal, como o mundo, a situação calamitosa que afecta dramaticamente a nossa forma de vida, as pessoas e as empresas. Sim, os grandes romances, os grandes ensaios, os livros de ciência ou de filosofia, tal como os editores e livreiros que são a sua casa, acabam de sofrer um violento abalo. Fragilizados pelas crises económicas de 2008 e de 2011, editores e livreiros são agora, como resultado directo desta pandemia, confrontados com a mais dura ameaça que o livro já experimentou em Portugal. A espada de Dâmocles, que é a insolvência de editores e o fecho definitivo de muitas livrarias, paira sobre as nossas cabeças, sobre a cabeça dos grandes livros e dos grandes autores, o que o empobrecimento salarial dos leitores, já de si uma minoria da população, mais reforça.
E esqueçam os choradinhos e peditório economicista, por mais legítimo que ele seja. Não vos estou a falar só de uma actividade económica. Ao falar do livro, estamos a falar de um sector estratégico para o futuro de Portugal, de um sector fundador para todas as outras actividades económicas. Como as neurociências cada vez mais atestam, o livro, a leitura de livros, é imprescindível para a obtenção e solidificação do conhecimento.
Se o futuro de Portugal passa, como todos acreditamos, pelo conhecimento, pela ciência, pela matemática, pelo avanço tecnológico, então o livro é a pedra basilar desse edifício. É a mais avançada ciência do mapeamento do cérebro humano que o afirma, garantindo que esse livro a que os cientistas se referem não é apenas o livro escolar ou técnico, de pura aprendizagem. São todos os outros livros, a literatura, poesia e romance, o Dom Quixote e As Mil e Uma Noites, Fernando Pessoa e Walt Whitman, que alimentam a inteligência emocional dos leitores, oferecendo-lhes uma cultura e uma experiência que, só pela vida, seria impossível colher e que lhes dá empatia humana, vacinando-os contra autoritarismos e contra a arrogância do imediatismo de tuítes e redes sociais.
O livro – os livros de António Lobo Antunes, de Jorge de Sena, Agustina, Sophia – é vital para conferir a Portugal o conhecimento de que o nosso futuro precisa e é crucial para a expansão do imaginário e da identidade emocional da comunidade que somos, identidade essencial à construção de um desígnio comum. Por alguma razão, afinal, o Dia de Portugal tem como patrono um poeta e a sua obra, denominador comum para os portugueses. Essa escolha não pode, apenas, ser uma flor de retórica. E quem ama a literatura junta-lhe, num gesto ecuménico, as novas gerações de escritores de língua portuguesa, de África, das Américas e da Ásia, vencedores alguns do Prémio Camões, signo do ideal de universalidade a que aspiramos e que nos empolga.
Cartas na mesa: sem o livro, todas as actividades económicas se empobrecerão. Sem o livro, o futuro das nossas ciências e da nossa tecnologia perde competitividade. Se não escolher a defesa vigorosa do livro, Portugal perde voz no concerto das nações. E esse é o Portugal resignado e sem ambição que todos recusamos.
Salvar o livro deve ser, pois, desígnio dos portugueses, dos cidadãos, do Estado, dos sectores do conhecimento – e de todos os sectores económicos, que, com esse salvamento, estarão a proteger-se e a enriquecer-se. O livro tem de merecer um tratamento de excepção. Não deixemos que, com esta água do banho, se deitem fora esses embriões do conhecimento e do imaginário que são os livros, todos os livros.
Há duas acções imperiosas a desenvolver. Uma a montante, restaurando, junto das novas gerações, o hábito da leitura e o tremendo e poderoso prazer que nela se ganha. Cabe ao sistema educativo repensar métodos de atracção e sedução, cabe aos pais a descoberta do poder lúdico do livro para reforço dos laços afectivos familiares. Cabe ao sistema educativo reparar a catástrofe de tantas opções facilitistas que afastaram as novas gerações do livro. Essa é uma acção a médio e longo prazo.
Mas para que ela possa ser bem-sucedida há uma acção imediata, a jusante, que tem de ser já concretizada: é preciso salvar as edições d’Os Lusíadas, de Hamlet, d’O Principezinho, de Amor de Perdição, que estão nas estantes. É preciso salvar os editores e livreiros portugueses, única forma de garantir a preservação do livro. Salvando-os, salvam-se milhares de autores, de tradutores, de revisores, de tipografias. E salva-se a diversidade, liberdade e independência do livro, contra hegemonias privadas ou estatais indesejáveis.
Consciente de que para tempos excepcionais são necessárias medidas excepcionais, há acções urgentes que precisamos de fazer como quem faz respiração boca-a-boca em emergência crítica. Dou exemplo de uma medida que valeria por mil, podendo injectar no sector várias dezenas de milhões de euros:
• Criação de um cheque-livro familiar, adoptando uma forma simplificada: permitir que cada contribuinte, após a finalização do IRS, possa ainda, e além das deduções já existentes na lei, fazer a dedução integral de 100 €, contra a apresentação de facturas de compra de livros em livrarias. Esta medida tem a vantagem de deixar na mão dos leitores a decisão de compra dos livros, sem dirigismos e sem desvirtuar regras de concorrência.
• Mais ainda, esta medida não exige investimento do Estado. Dir-se-á que o Estado perde receita no IRS. No entanto recupera-o directamente, quer no IVA do livro, quer no IRC das livrarias e editores, quer no IRS dos autores e de toda a cadeia tradutores e revisores. Mais ainda, recupera-o indirectamente poupando nos custos sociais, de pendor negativo, que o Estado terá de suportar se editores e livrarias entrarem em insolvência e uma vaga de despedimentos se abater sobre o sector.
Esta é uma acção forte e necessária para garantir que as novas gerações, com as ferramentas que só o livro e a leitura lhes põem nas mãos, dominem o pensamento e a linguagem, criando a ciência, o saber, a beleza, os valores e a democracia que farão de Portugal um país com futuro. É esta a missão a que todos os autores, editores e livreiros querem entregar-se. Vamos salvar Camões, Eça, Hemingway, Kant, Wittgenstein, Virginia Woolf ou Clarice Lispector do vírus fatal. Salvando-os, projectamos Portugal para um caminho de conhecimento, ciência e riqueza emocional. Não deixem o vírus matar Camões.
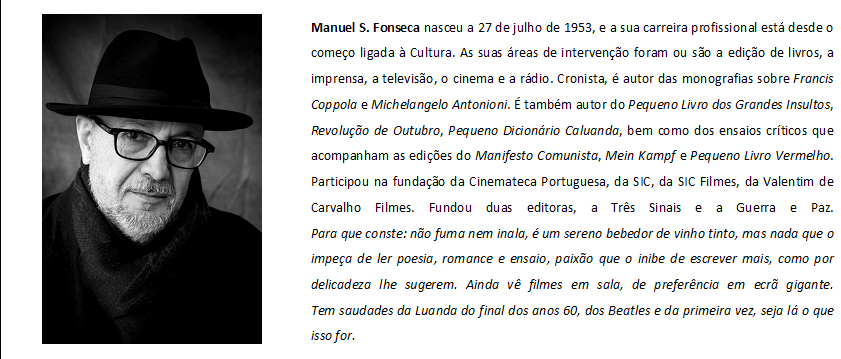
(créditos fotográficos de Alfredo Cunha)

Texto de Marciano Gualberto Nascimento (Brasil):
Covid-19, peste que não só reflete a morte,
Mas o mal caráter dos seres humanos
O mundo tá acabando e você aí,
Cada vez mais arrogante, orgulhoso e egoísta
É mais fácil o ser humano acabar com o mundo
Do que um vírus proliferado
Deixe máscaras para contaminados,
E não para esconder seu “pandemônio” facial
Dentre a peste negra (século 14), a gripe espanhola pós-Grande Guerra,
E todos os outros surtos, você não ampliou sua percepção
Sobre o valor da vida,
E me faz surtar ainda mais.


Texto de Maria Clara Costa (Portugal):
PANDEMIA DA PRIMAVERA DO SÉCULO XXI
Atravessei o jardim
Sem ver gente ou animais
Gelei dentro de mim
Por fora ouvi meus ais
Sem uma paisagem humana
Senti-me um vagabundo
E vi como o mundo abana
Quando o silêncio é profundo
Ninguém está preparado
Pra viver esta loucura
Mas se é a fé que nos salva
Há que ter calma e bravura
Dias brilhantes virão
Pra aquecer as nossas almas
E dizermos com emoção:
Vamos todos bater palmas!!!


Texto de Olinda Beja (São Tomé e Príncipe):
LER POESIA EM TEMPOS DE PANDEMIA
Abril de 2020, inédito (incluso está um poema escrito em maio de 1968,
“Nós éramos sete à mesa”)
Do espetro do nada
apareceu sem ser esperada… a solidão
apareceu e perentória anunciou “de hoje em diante
eu solidão vos condeno ao exílio das águas correntes…
cristalinas… cantantes…
ao silêncio das crianças a sair da casa do Mestre
à míngua de beijos e de abraços afetuosos
quentes meigos tímidos tempestuosos…”
Na sua mansarda o poeta tudo ouviu
mas não se atemorizou
na solidão sempre viveu, a ela se habituou
abriu gavetas há muito fechadas
rebuscou papéis antigos
onde em tempos de estúrdia
escrevia poemas aos amigos
e às namoradas
depois veio a net… a modernice e os papéis ficaram
sem serventia
mas agora em tempo de pandemia
o poeta entendeu por bem voltar a usar
aquelas folhas e nelas espelhar
a sua arte a sua solidão
que agora lhe servia de inspiração para ouvir melhor
o que se passava na casa dos vizinhos … até o amor
saboreava-o na cama dos outros que gemia
na voz feminina que cantava numa prece
aquela canção que nunca mais se esquece
“Quem mostra bo es caminho longe?
Quem mostra bo es caminho longe?
Es caminho pa São Tomé”
E a inspiração avançava
no prédio da frente na varanda do lado
e o poeta escrevia o seu futuro e o seu passado
De repente
no passeio os agentes da ordem impunham o confinamento
a clausura
guardadores de ruas e fronteiras
batendo a bota na calçada dando um ar de compostura
à obrigação que a lei impunha. Célere o poeta vem à janela
arremessando
os papéis onde começara a escrever a sua saga
gritando:
“Leiam amigos! leiam poesia em tempos de pandemia!”
Incrédulo, um dos agentes se baixou e timidamente começou a ler:
“Nós éramos sete à mesa, éramos sete ao jantar”
– mais alto – gritou o poeta – mais alto… com mais vigor”
E o agente encheu o peito e a voz abriu-se em flor!
“Nós éramos sete à mesa, éramos sete ao jantar
os pais, a avó, a Teresa, o João e o Waldemar
nós éramos sete à mesa, éramos sete ao jantar
e a vida simples corria em longínquos cruzamentos
que minha avó transmitia em histórias de momentos
passados junto à lareira a enganar pensamentos.”
Ouviram-se aplausos e as varandas pediram de novo
que os agentes da ordem, esses homens que também são povo
lessem mais. E mais. E foi a vez de um agente feminino
docemente erguer a voz:
“Um dia chegou porém que o pai adoeceu
– tísica – disse o médico – e o seu corpo emagreceu
tanto, tanto, tanto, tanto que o sol desapareceu
de seus olhos cor do mar que só a terra comeu
e agora éramos seis à mesa, éramos seis ao jantar
a mãe, a avó, a Teresa, o João e o Waldemar
agora éramos seis à mesa. Éramos seis ao jantar…”
Voltaremos amanhã – disseram emocionados
com tais ovações sentidas
em janelas e varandas esquecidas
da solidão imposta pelo invisível inimigo
que tanta força dava ao poeta desconhecido que escrevia
o que ele próprio agora lia:
“António conheceu Teresa no baile da romaria
prometeu dar-lhe outra vida. Ele mesmo a levaria
pra longes terras de França onde nada faltaria
nem mesmo um filho sem pai que ele próprio lhe faria!
A mãe não compreendia porque partia a Teresa
coitada, ela só via menos um lugar à mesa
e um neto sem ter um pai e um coração de tristeza
e éramos cinco à mesa, éramos cinco ao jantar
a mãe, a avó, o João e o Waldemar
nós éramos cinco à mesa, éramos cinco ao jantar.”
E as janelas se abriam. As varandas, os terraços
as vizinhas que sorriam e sem qualquer embaraço
pediam mais folhas soltas bordadas de poesia
e gentilmente o poeta a todas satisfazia
e alto, bem alto lia:
“Mas quando agosto chegou no ano logo a seguir
o João deu a notícia que a mãe não queria ouvir
partia para o Brasil que o tio o queria lá
para que ele o ajudasse nas terras do seu Pará
onde a riqueza era tanta que João nem hesitou
e antes mesmo do natal num cargueiro embarcou
e a nossa mesa de cinco em quatro se transformou
nós éramos quatro à mesa, éramos quatro ao jantar
a avó, a mãe e o Waldemar
nós éramos quatro à mesa, éramos quatro ao jantar.”
E à hora que era esperada os agentes apareciam em busca dos
seus papéis
que de homens tão anónimos os faziam sentir reis
ao lerem para as varandas o que as folhas escondiam
a vida de um poeta que eles agora sabiam
por isso liam, e liam…
“Quando João escreveu contando a desilusão
que a riqueza do seu tio era no triste sertão
donde nunca ele sairia pois não ganhava um tostão
a avó chorou tanto, tanto que em breve a morte a chamou
e a casa encheu-se de pranto e a mesa com três ficou
já éramos só três à mesa
éramos três ao jantar
o Waldemar e a mãe, a mãe e o Waldemar
e eu ainda tão criança nem dava para contar
mas éramos três à mesa, éramos três ao jantar…”
E era a vez da mulher-agente que ficava comovida
com tanta palavra bela a cimentar uma vida
ler em voz alta com profunda nostalgia
o que o poeta escrevia:
“a carta chegou fechada avisando o militar
que pela pátria sagrada teria que ir lutar
e o barco que o levou a uma guerra sem razão
regressou
mas ele não
só veio uma outra carta com fita negra a dizer
“’morreu em defesa da Pátria. É herói do Ultramar’”
e assim foi o fim inglório do meu irmão Waldemar
e a mãe não resistiu. Pouco tempo sobreviveu
a tanta calamidade que na casa se abateu
e de dia para a noite seu cabelo embranqueceu
e seu corpo deu à terra talvez sonhando ir ao céu”
Os aplausos eram tais que toda a gente olhava
para a pequena mansarda que tanta folha enviava
e orgulhoso o poeta a sua saga fechava:
“no dia em que a mãe partiu a mesa ficou vazia
só eu estava sentado, só eu sozinho dizia
nós éramos sete à mesa, éramos sete ao jantar
os pais a avó a Teresa o João e o Waldemar
nós éramos sete a mesa, éramos sete ao jantar”.
E os agentes e os vizinhos que às janelas esperavam
os poemas que um poeta naquelas folhas escrevia
souberam da sua saga em tempos de pandemia
quando o espetro da solidão lhes ditou rígidas leis
E sempre à hora marcada os vizinhos e os agentes
que agora se julgam reis
esperavam outras folhas cheias da tal harmonia
juntamente com o grito que da mansarda
se ouvia:
– Leiam amigos, leiam poesia, em tempos de pandemia!


Texto de Orlando Castro (Angola):
Nos córregos da pandemia
fecundei o olhar de um país
de sonho e sem latitude.
A quimera era uma poesia
que feria de morte a raiz
de uma tão cobarde atitude.
A minha criança negra recusa
pétalas celestes de amanhã
nascidas nesta terra queimada.
Sonhar é algo que não se usa
porque até a esperança é vã
e a vida uma morte Covid(ada).
Huambo, Huíla, Benguela,
mapa acéfalo de recortes
e de pitangas mais agrestes.
Amorfismo da minha cela,
de grades feitas de mortes
sem cruz, beijos ou vestes.
Tulemba, espírito reinante,
irmão ganguela do passado,
passado mortífero que assola.
Jamais a Mãe preta será amante
daquele espírito bom e amado
do avoengo Ginga ou Txissola.
Quimera sim do Upuango,
Kissange nas noites do Bié,
na negridão da noite Luena.
Nosso, esse rio Cubango
vermelho de sangue sem fé
negro de vida nada serena.
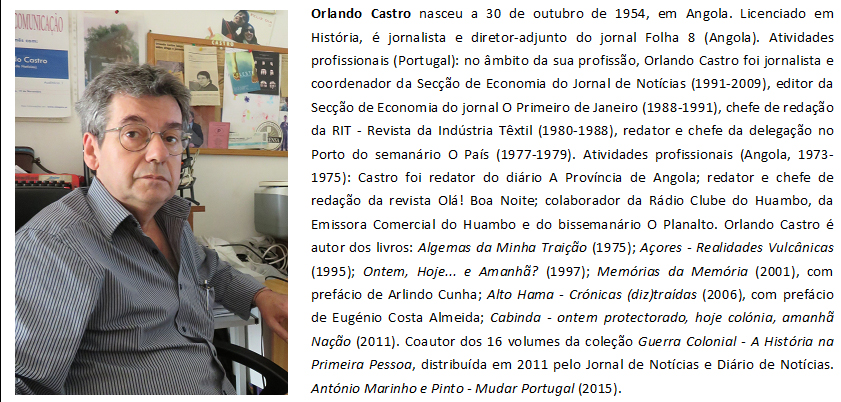

Texto de Ozias Filho (Brasil):
três poemas em tempos de pandemia*
quem é este que se me apresenta?
lembra-me alguém em tempo de férias
olha para os dias parados no espelho
e não enxerga mar gente selfies
***
a casa ameaçada pelo invisível
não se aguenta
nas pernas
o lugar vago na poltrona
o lugar da televisão
o lugar vago na cama
do hospital
o invisível venceu
***
O silêncio corta
a cidade de domingos
e nunca mais é segunda-feira
*poemas do livro O avesso da casa (inédito)
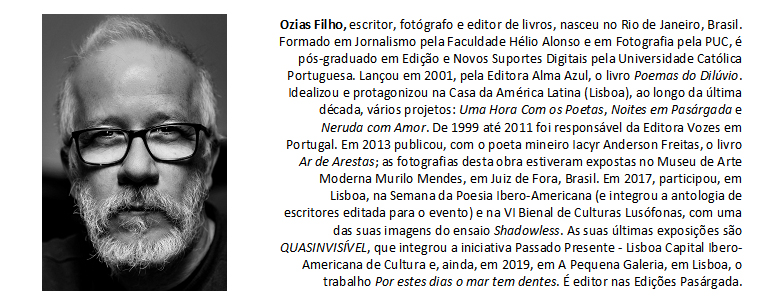
(créditos fotográficos de Raquel Barata)

Texto de Paulù Salmoura* (Cabo Verde):
Eu nunca dormi muito cedo. Desde tempos idos, foram hábitos meus serem já altas horas da madrugada e eu ainda acordado. O silêncio sempre foi para mim como um inibidor de um sono profundo e tranquilizador.
Ainda hoje, da mesma forma, tudo continua igual. Às vezes, principalmente aos fins-de-semana, agora porque tenho uma filha pequenina, fico até altas horas da madrugada acordado. Vou sempre antes ver se ela já dorme e depois vou até à pequena sala de visitas e entreabro as persianas da janela que dá para a rua e fico tempos mirando para o outro lado da rua onde há um club nocturno que, até ontem, era muito frequentado pela juventude e não só.
Às vezes, a minha mulher ainda me perguntava:
– O que estás a fazer que ainda não vieste para a cama? Hoje não vens dormir?
Pelo que quase sempre respondia:
– A pequena está acordada. Dois minutos e já vou!
Mas a maior parte das vezes ficava atrás das persianas, espreitando e, ainda mais, sonhando com o que se passava lá fora, como um pássaro preso numa gaiola que espreita os passarinhos livres lá fora.
Algumas vezes ganhei coragem e desci à socapa, pé ante pé, as escadas do primeiro andar, troquei de sapatos, vesti um sobretudo e fui até ao Pub tomar um copo. No entanto, quase sempre me arrependia por me aperceber que isso tudo era na ilusão e uma busca, como se fosse algum elixir que me rejuvenescesse novamente, visto serem o fumo, o álcool e a juventude coisas que por mim já à pares de anos haviam passado…
Ficava por aí pouco tempo. Como se o barulho e as luzes oscilantes fossem para o meu subconsciente um potente sonífero visto que, de regresso a casa, quase sempre, adormecia poucos minutos depois.
Não sem antes levar um raspanete da minha mulher, que me perguntava sempre:
– Por onde andaste, vens tão gelado, e cheirando a fumo? ‘Tiveste a fumar?
– Não, simplesmente tive que ir lá baixo pedir para que fizessem menos barulho por causa de não acordarem a menina.
Mas na verdade quase nunca dormia demasiadamente. Às seis horas em ponto aparecia, descendo pela rua abaixo, o velho varredor da Câmara Municipal que, azafamado, sempre vinha resmungando em peçonhosa voz impropérios, chutando copos de plástico, garrafas de vidro e latas de cerveja - vestígio de passadas folias nocturnas, Enquanto vociferava em voz alta pragas aos pequenos grupos de jovens retardatários que, devido ao excesso de alcoolemia ficavam estatelados nos bancos públicos.
Mas hoje foi uma madrugada diferente. Já de manhã, nos noticiários, só se falava numa “Nova Pandemia” mas, da mesma forma que fazia sempre, fui à janela e espreitei para a rua do lado. No entanto, como em noites mais frias de inverno, estava sem vivalma alguma. A rua, como que tivesse perdido a vida, isenta dos barulhos nocturnos que são os prazeres da vida e da juventude.
De mim apossou-se um temor, um, vazio e vou ao quarto procurando algum consolo e tentando acariciar de leve a face bonita da minha mulher que dorme mas que me responde com um olhar furibundo e um gloterar imperceptível. Vou novamente até à janela e oiço alguém que, a passos parcos, cantarola uma melodia alegre. Lá vinha o velho varredor descendo pela minha rua abaixo. Hoje vinha todo sorridente e jovial enquanto num gesto mecânico vez ou outra se agachava para apanhar meia dúzia de papéis e beatas de cigarros do chão.
Então desisto e vou até ao quarto da minha filha que, geralmente a essa hora, algumas vezes acordava do terceiro sono, esperando alguém que a pudesse abraçar e acalentar.
Mas ela dormia um sono profundo, indiferente a mim, indiferente a todos e indiferente ao Mundo.
* O autor não segue a grafia do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.
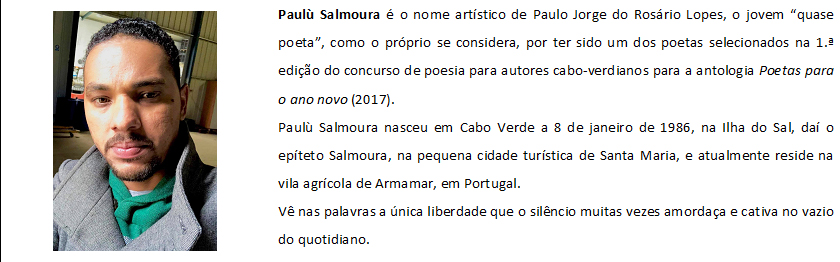

Texto de Regina Correia (Portugal - Angola):
Espera-se pouco do miolo que, de
si mesmo, cria o vazio vivo da
máscara no centro dos pesadelos,
na vibração dos signos alterados.
Já nada golpeia os laços frouxos
da contemplação. Recentra-se a maré
no tempo que tudo leva. Quem corre
para os arcos detrás dos condenados?
Mais tarde, frente ao sol, novas máscaras.
Um pássaro renova canto e margens
sobre os frutos que emergem minerais.
Diante das cicatrizes na pedra
sem máscara sucumbe o antílope
ao golpe pleno dos pontos cardeais.
2. DESASSOMBRO
no poema etérea luz
que aviva traços frágeis da
existência consumida
mais do que bênção no centro
da harmonia quebrada
diz réstia de desassombro
à romagem confrangida
não cuidemos que é ventura
singular num recomeço
enfermo da sementeira
prevalece um subterrâneo
credo à prova de qualquer
desordem na voz que agita
letais garras da cegueira
ouve-se no contorno dos
signos murmúrio fino
da palavra iridescente
agora que o vento brada
sôfregas urgências de um
cárcere exposto onde
vibram clarões no poente
in No Coração dos Desertos e outros Oásis (inédito)

(créditos fotográficos de Ben do Rosário)

Texto de Sérgio Fernandes (Angola):
Hoje abri a minha caixa do futuro. Sim, eu tenho uma caixa que me permite ver o futuro. Não o do mundo. Ah! Quem me dera poder ver o futuro do mundo e talvez estaria preparada para o que havia de vir. Teria visto o meu futuro, dos meus filhos, de todos que amo, da humanidade. Teria alertado a todos, aos meus amigos, aos meus vizinhos, às autoridades. Teriam eles acreditado em mim? Acreditariam se lhes dissesse que ficar trancado em casa seria a solução? Ou teriam visto em mim mais uma velha louca. Talvez uma falsa profetisa.
Não. Não tenho esse poder de ver o nosso futuro. A minha caixa me permite ver apenas o meu futuro. E nem sequer é verdadeiramente o meu futuro, é uma lista de desejos, de coisas que quero fazer. É, na verdade, um plano de trabalho, como se a minha vida fosse uma empresa, ou uma simples agenda, como diria o meu filho, naquela sua tendência de reduzir tudo ao mínimo.
Abri a caixa com solenidade. Acho que nada é mais solene do que o futuro. Pelo seu mistério, pelo mar de possibilidades e de infinidades, pelos sonhos, sei lá. O que está por vir é sempre mais venerável do que o que já passou. Abri a caixa, os meus papéis, com todos os meus planos para este ano, todo este tempo comprimidos dentro desta caixa, quiseram saltar para fora. Tirei-os a todos de uma única vez, pousei-os sobre a mesa. Olhei para eles como se os visse pela primeira vez. “Essa sou eu, no futuro”, pensei.
Escrever os meu planos para o novo ano é uma tarefa que um médico me recomendou quando o meu marido morreu e dias depois eu caí em depressão sem dar por isso. Sempre que me lembro de algo que desejo fazer, sento-me, pego numa folha de papel e escrevo o plano. Faço-o mais perfeito possível. Aponto tudo ao mínimo detalhe. Não porque eu seja detalhista, mas porque quando planeio sinto como se uma boa parte do plano já estivesse a materializar-se. Escrevo tudo, fico horas a escrever. Às vezes preciso de vários rascunhos, e só quando finalmente sinto que o plano atingiu a perfeição ele se torna em mais um momento do meu futuro e vai então para a caixa do futuro.
Sinto uma alegria imensa em tomar conta de mim cada vez que um plano entra na caixa do futuro. É como se eu embarcasse numa viagem instantânea para o futuro. Minha mente viaja, vejo-me naquele futuro, fazendo aquilo que quero e sendo feliz hoje, tal como o serei realmente naquele futuro.
Todos os anos realizo uma cerimónia especial para abrir a caixa. Na verdade, nem sou eu quem a realiza, apenas faço coincidir com o momento mais importante do meu ano: a noite de réveillon. Neste dia, os meus filhos, que quase não vejo durante o ano, as minhas noras e os meus netos vêm para cá. Cozinhamos, bebemos, as crianças perdem-se entre os bolos e as guloseimas. Então, pouco depois da meia-noite, depois dos candandos, abro a caixa e leio perante a minha plateia os meus planos para o novo ano. O meu filho mais velho nunca tem muita paciência para este meu momento, diz que são as minhas minudências. Várias vezes pensei em não mais ler os meus planos diante deles, mas percebi que se o faço é porque no fundo procuro a sua aprovação.
No final do ano passado dei razão ao meu filho. Meus planos não passavam de minudências. Coisas menores, sem significância e que iam reduzindo ainda mais em magnitude a cada ano. O que planeio eu para mim? Organizar um jantar no aniversário de um neto, participar das atividades da igreja, assistir ao casamento de uma sobrinha, organizar a casa para a ceia de réveillon. “Coisas tão sem importância”, pensei. “Vou fazer tudo diferente”, gritei, revoltada com a minha vida, com os meus planos. Porquê espero um ano inteiro para ter um pouco de vida? Para ter companhia? Para ser novamente uma pessoa? E porquê passa tudo tão depressa? Sentei-me na cadeira. Tomei várias folhas de papel, disposta a escrever um novo futuro para mim. “Desta vez não precisarei da aprovação de ninguém. Será o que eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser.”
Escrevi os novos planos: Aprender a tocar guitarra, trocar o meu guarda-roupas, conhecer a Namíbia, conhecer um homem, namorar. Escrevi sem parar, todos os detalhes, incluindo as noites de amor com o meu novo companheiro. Meu corpo tremeu de saudades enquanto escrevia os detalhes. Ainda saberei beijar? Amar? Vou tentar. Imaginei a cara do meu filho vendo-me cumprir os meus planos. “Com que então, minudências?” Pergunto-lhe irónica, enquanto no rosto dele vejo estampado um ar de surpresa e pânico. “Esse é o meu ano. Esse é o meu futuro”. Guardei tudo na caixa do futuro, à espera do novo ano.
Hoje, sentada de frente para o meu futuro, olhei para os meus planos espalhados sobre a mesa e uma lágrima caiu-me do olho. Uma solidão confusa ronda esta casa. Sopra-me ao ouvido palavras que não consigo perceber. Na televisão, a voz soturna de um locutor anuncia: “Somos de informar que temos mais dezoito casos e quatro mortes.” Essa é a nova realidade que substituiu o meu futuro. A vida regida por casos confirmados, casos suspeitos, óbitos e casos recuperados. Uma vida em código, como um código binário em que tudo se rege por zeros e uns. E nada mais. Tudo perdeu o interesse, a importância, tudo agora são minudências.
Lá fora, rondam os militares impondo o estado de emergência para conter o avanço da pandemia. No telefone, de quando em vez, a voz dos meus filhos reforçando: “A mãe não pode sair de casa, a mãe faz parte do grupo de risco.” “Para onde irei eu? Está tudo fechado, parado, morto, até o meu futuro fechado numa caixa.” Penso, mas não digo. Complacente como sempre, respondo: “Está bem. Não vou sair de casa”. Aqui dentro, o vazio, a solidão que sussurra.
Levanto-me com todos os meus planos para o futuro na mão. Pouso-os numa travessa de alumínio. Acendo um palito de fósforo e atiro sobre a pilha de papéis. Uma chama leve começa a crepitar e vai ganhando força, vontade, vida. Quieta, vejo queimar o meu futuro.


Texto de Sofia Delgado (Cabo Verde):
Roubar não está nos meus interesses
Inveja é para falhados sem carácter;
Orgulho-me das minhas capacidades
Genuínas, mesmo com parcos meios.
Os meios para muitos pouco importam
Importam os fins, não as consequências
Vaidade e ganância contam, a dor não
E moralidade é água para lavar burros.
À saída do útero, Platão entendeu a luz
A inocência ganhou rosto viu as sombras
E nas sombras algumas mentalidades fúteis
Os meios para o poder pouco importam.
Na História Platão escreveu democracia e justiça
Deixou a Aristóteles o dom da retórica à ética;
Na Judeia, Jesus congregou paz, amor ao próximo
Maquiavel inverteu tudo, fomentou a dominação.
Somos milhões como Platão, Aristóteles, Jesus
Confinados entre paredes e portas iluminadas;
Lá fora macacoaquiavéis ensombram o mundo
Deliram uma vez mais pelo pânico espalhado.
Somos milhões, genuínos, resistentes às guerras
Resistentes à miséria, pandemias, fixos à vida
Com água para lavar falhados e olhos no futuro
Unidos na esperança mesmo com parcos meios.
Somos milhões, geração da conexão interplanetária
Vimos guerras nucleares, vimos terrorismo avulso
Viroses químicas, mortes fabricadas e encomendadas
E ainda nos tratam como ingénuos ou ignorantes.
Enganam-se os Senhores do imperialismo silencioso
Que legalizaram o extermínio de idosos
Nos apartam e confinam entre paredes e janelas
Que quedaremos no medo em nome da prevenção.
Criaram e exportaram os vossos vírus manipulados
E nos impedem despedir dos nossos mortos
Mas somos a geração da conexão
Somos muitos, vemos, ouvimos e não nos calam!


Texto de Sônia Barreto Freire (Brasil):
Sampa é poliglota plural,
Polida e populosa
Panacéia viral...
Sampa é palaciana profana
Periférica e paroquial
Paralisia letal...
Sampa é paulinismo parnasiano,
Palafita e pagã
Plasma hormonal...
Sampa é poema niilista,
Patética e pacifista
Parada descomunal...
Sampa é paradoxo preliminar,
Paradigma pendular
Perseu de além mar..


Texto de Suélen Dominguês (Brasil):
BEBÊ-DIABO REENCARNA EM TAUBATÉ
Em 11 de maio de 1975, em São Bernardo do Campo, nasceu o diabo em carne e osso: com dois chifres pontiagudos, um rabo, olhar feroz, língua suja. Era domingo do dia das mães e o bebê veio pra fazer jus ao tino de ser filho: mal-agradecido. Jurou os médicos de morte, deu um pontapé na barriga progenitora e foi ser satanás da vida.
A culpa ficou com a mãe que, corcunda, com a barriga lá nas costas, debochou um convite de procissão santa, Não vou enquanto esse diabo não nascer. Pois deus levou no literal e a mulher pagou a língua: o canhoto veio à luz. Os jornais perseguiram o tinhoso por semanas e meses. São Paulo encapetou. Não há neste Brasil uma alma penada que, num dia de lua cheia, não tenha visto o tendeiro despendurado nalgum telhado.
Que beleza é a imprensa nacional! O NP produziu nada mais que a verdade. Cramulhão ficou orgulhoso de seu filho. E quando o menino levado ganhou a intimidade do povão, o jornal perdeu o motivo. O bebê-diabo se magoou, fez sua malinha e foi viver em perimpompeia.
A superstição é popular, mas a notícia é liberal. Enquanto, em praça pública, o espírito da ditadura defendia a constituição e a liberdade, o bebê-atômico, o bebê-sereia e outros tantos bebês nasciam pra preservar o fim da democracia.
Em 2009, o Et Bilu aterrissou em Corguinho com uma mensagem de paz, Busquem conhecimento! Acontece, as más línguas se contorceram e a imprensa divulgou, O suposto, interesseiro, em busca de fama. Há quem diga que o Et Bilu é pró-Lula, comunista; e há quem diga que ele é o responsável pela grande revelação: a terra não é redonda, é convexa.
Dos boatos, me abstenho. Mas o Et Bilu com certeza acertou, Busquem conhecimento. Bilu, antes de fazer sua malinha e partir pra perimpompeia, me pediu pra disseminar a sua palavra, Eu sou setenta por cento. E a terra é redonda.
Em 2012, a record arrebitou a crista e cantou compromisso com um jornalismo de responsabilidade: a apresentadora do programa “Hoje em dia” desmascarou a grávida de Taubaté. A barriga era de silicone. Que vergonha! Então não sabe que uma reportagem deve averiguar todos os fatos? Os reais e os irreais. Os deste mundo e os sobrenaturais. A grávida de Taubaté também foi para perimpompeia.
Mas o que ninguém poderia imaginar é que a falsa gravidez gestava a volta do bebê-diabo: hoje, 13 de junho de 2020, em Taubaté, o menino-diabo foi visto rodando pião na praça. Azucrineiro que só ele, abraça o povo, espirra na cara dos compadres. Tosse, tem febre e falta de ar.
No meu pitaco (1), O mais correto é se proteger, porque isso de que o vírus se dissemina assim ou assado é tudo papo de língua que não cabe dentro da boca. Não temos certezas; até o diabo calhou de ser contaminado.
O presidente faz live e receita cloroquina. A Folha escreve um louvor ao remédio presidencial: só por má vontade é que o vírus não se deixaria matar pelo remédio. Eu sempre desconfiei que a culpa realmente é nossa que desaprendemos a desacreditar nas superstições bestiais. O menino-diabo quer porque quer cloroquina – álcool em gel, isolamento social, máscaras... Bem capaz! Isso é coisa de gente sem o meu porte físico, eu sou filho daquele que não-se-diz-o-nome, de sobrenome messias. Dale Cloroquina!
E o jornalismo de responsabilidade da record continua fiel à bancada evangélica, abençoado pelo perdão das dívidas. O mundo é canibal: haja avaina de pau pra excomungar presidentes e pastores, chessuss!
O menino-demo, antes mesmo da hora do almoço, bateu as botas e pendurou as meias. Sem luto, sem cova, sem adeus. Não aparecerá no jornal. É que a cloroquina não funcionou. Shhhh! Preservemos a credibilidade da comunicação de massa.
Faço as minhas malas. Lavo as minhas mãos. O Cleiton, meu jegue (2) azul, me espera de sorriso largo; o itinerário passa por Taubaté em busca do findo diabo. Fincamos na terra o outdoor da desigualdade. A bandeira antifascista pintamos de rosa, azul, amarelo, verde, escrevemos cheirosa, gostosa, cremosa. Não sou de esquerda e também não sou de direita.
Eu gostaria de mandar um beijo pra Xuxa.
Depois entramos: o demo, o jegue e eu no guarda-roupa. Dobro e dobro e redobro os trapos, um por um, até que sumimos do monte.
Na geladeira, ficou o bilhete:
Clementina,
se alguém perguntar por mim
diga que fui pra perimpompeia
ouvi dizer que lá tá todo mundo confinado
de máscara na face e olhar desmascarado.
Ps. Não esquece de desligar o congelador uma vez por mês.
(1) - Pitaco – termo usado no Brasil para referir um “palpite”, uma opinião dada sem fundamento ou conhecimento do assunto.
(2) - Jumento


Texto de Timóteo Papel (Moçambique):
CARTA A UMA MÃE EM TEMPOS DE CONFINAMENTO OU DISTANCIAMENTO SOCIAL
Querida Mãe!
Escrevo-te na solidão e na escuridão do meu quarto onde nem a luz do sol, muito menos a luz da lua se faz sentir. Os dias são monótonos. As noites quentes tornaram-se frias, sem vida nem graça. Mas como a esperança é a última coisa a morrer, luto para continuar vivo mesmo sem vida para viver. Na verdade tudo o que fazia sentido deixou de o fazer por causa desta situação de quarentena, distanciamento social ou sei lá isolamento, no cumprimento escrupuloso de medidas de prevenção e combate ao covid-19 ou Coronavírus. Diz-se que é um vírus que vem da China, imagina, mãe? Agora de lá não vêm apenas aqueles sapatos, chinelos, brincos e outro tipo de produtos que pela sua natureza não duram muito. Mãe deve lembrar-se daqueles baldes, calças e sapatos que comprou naquele chinês dali na esquina que nunca fizeram nem sequer um mês. Lembra! Não lembra mãe? Pois é.
Todavia, apesar de toda essa nostalgia ao passado mãe, a anterior vida que levávamos que já não era grande coisa, pois vivíamos afastados por conta das tecnologias que nos consumiam o tempo, o amor a família, aos irmãos, amigos e tudo o que era útil e deveríamos sempre ter presente, a situação actual só é chata, porque nos é imposta por uma autoridade cuja sua não obediência autoriza-se por si a usar o seu ius imperium. Uma imposição que nem era necessária, porque deveria ser normal a convivência das pessoas em família. As pessoas deveriam amar-se mais e aproveitar todos que estão em seu redor. As tecnologias não deveriam nunca ter substituído o outro que está bem ali diante dos seus olhos. Os outros chamam isso de modernidade líquida (Bauman), hipermodernidade (Lipovetsky), mas será que isso é alguma coisa para nós mãe? A nossa tradição não será maior e melhor que tudo isso, embora pela situação não possamos sentarmo-nos a volta da fogueira para ouvir as mais lindas histórias dos nossos antepassados?
Lembro-me quando me chamavas para buscar sal na cozinha, cortar tomate, pilar o alho, temperar a carne ou cortar a couve e eu com meu celular na mão fingia não ouvir ou simplesmente pedia mais uns minutinhos só para poder colocar um like na foto de um amigo ou uma amiga; responder uma mensagem num grupo de WhatsApp ou escrever alguma coisa que com certeza atrasava mais o nosso almoço ou jantar.
Não falo de pequeno-almoço, isso dizias que era para gente que respirava com os dois pulmões. E respirar com os dois pulmões para ti, mãe, ou o indivíduo deveria estar na política ou deveria ser um empresário ligado ao partido no poder. Era assim que as coisas funcionavam e ainda funcionam por aqui. E nós que nem num lado nem noutro estávamos, só podíamos respirar com um pulmão e viver graças a providência divina, pois há dias que nem tal almoço ou tal jantar existiam. Aliás nem sei porque chamo de almoço ou jantar. Será porque passávamos tais refeições as 12 horas ou as 20 horas?!
Mas essas eram apenas entrelinhas, mãe. Deixe-me, contar-te agora um pouco sobre a minha morte lenta. Disse-te no início desta carta que as noites são frias e os dias monótonos. Sim, mãe. São e muito. Na verdade este distanciamento que se impôs entre nós é mais do que uma prisão. Pois, um condenado sabe quando poderá estar junto da sua família. E nós? Quando poderemos trocar beijos e abraços no calor do dia? Quando poderemos sentarmo-nos e comer no mesmo prato a nossa xima de mandioca com thodwe ou com madjembe frito, quando tivermos óleo, porque quando não tivermos assaremos no carvão de olhos bem abertos para não queimar e perder o gosto.
Ahhh ligou-me ontem a mana Inês, desesperada e cansada e entre lágrimas contou-me que começou a arroz novo. Chorei. Chorei. Chorei feito uma criança quando está com fome ou sede. Chorei, porque como sabes e bem me conheces adoro o aroma do arroz novo, sobretudo quando feito por ti naquela tua panela de barro acompanhado com aquele peixe ndowe ou mukadje com leite de coco grosso. Também sabes que adoro matago e madduguddo. Coisas que me ensinaste a comer e a gostar. No entanto, nesses tempos de distanciamento nem o cheiro de longe posso sentir. Pior ainda, não podes mandar como fazias quando eu fosse estudar longe de casa. Por isso, mãe, a minha tristeza não tem fim. As paredes cansaram-se de consolar-me, as toalhas cansaram-se de enxugar as minhas lágrimas e o remote então, já não tem teclado, pois na busca constante de canais de informação sobre tal pandemia só vejo noticiários sobre mortes na Ásia, Europa, América, agora África, o tal continente de jovens que pelas suas condições de vida, parecem mais velhos que os velhos daqueles velhos continentes.
Querida mãe, não perguntarei como estás, pois sei que não estás nada bem. Qual mãe estaria bem sem os abraços dos seus filhos, netos e bisnetos? Como estarias bem se nem podes sair de casa para ir no velório das tuas amigas e vizinhas que dia-a-dia sucumbem desta vida e a participação é por convite como em festas de gala? Como estarias bem se nem podes ir à comunidade rezar com as tuas amigas, vizinhas e conhecidas pelo fim desta miséria humana que Marx outrora a chamou de miséria da Filosofia? Como estarias bem se a humanidade está doente e nem a ciência pode salvar-nos agora?
No princípio, pensei como muitos que essa situação era apenas para homens brancos, aqueles que mandam no mundo, não só brancos, mas também velhos e cansados, porque lá onde é na terra de brancos não é problema ter 90 ou mesmo 100 anos. O que quer dizer que até os velhos de cá estavam isentos ou pelo menos imunes a essa pandemia. No entanto, a coisa começou a mostrar-se diferente quando ouvi que também crianças, jovens e adultos poderiam infectar-se. Aí comecei a perceber que aquele vírus não olhava para idade nem raça, muito menos fazia distinção entre ricos e pobres.
Não sei se a essas alturas que te escrevo esta carta estou habituando-me a esse confinamento, distanciamento ou sei lá isolamento social. O certo é que a situação ainda é desoladora quer no mundo fora quer internamente. Aliás, ontem mesmo ouvi pela rádio que os 39 casos positivos que tenho certeza que mãe também ouviu, dos quais 8 já estão recuperados, até um, aquele que diziam que não era positivo veio admitir publicamente que foi um dos primeiros recuperados, fala-se que em 6 meses podemos chegar a 20 milhões de infectados pelo Coronavírus. Fiquei perplexo, pois 20 milhões é muita gente, mãe. Aliás, mais da metade da população. Então inclinei-me a pensar que tratava-se apenas de 20 mil, mas quando ouvi que eram necessários 34 mil milhões de Meticais para fazer face a situação, então não tive outra opção se não acreditar.
A ser verdade mãe, só posso chorar, pois se com malária e cólera não conseguimos, será que conseguiremos com este Coronavírus? Portanto, se não receberes mais uma carta minha, não chores. Talvez terei partido não para aquele partido de oportunidades, mas para o além. E como não poderás pedir um exame para saber do que morri, ficarás com o que puderem diagnosticar que será uma febre, tensão, cólera, malária, ou mesmo que fui envenenado na bebedeira ou que aquela menina que me queria e eu não a queria enfeitiçou-me, só para justificar a minha morte, já que entre nós a morte deve sempre ter um culpado. //


Texto de Valentino Viegas (Goa):
Acabo de ouvir bombardeamentos. Aviões de combate, depois de terem sobrevoado a minha casa, a alta velocidade, devem ter lançado bombas contra objectivos estratégicos. Dirijo-me para o calendário, abrilhantado com o mapa de Goa, e sublinho o dia 18 de Dezembro de 1961, como quem identifica e assinala uma data a não esquecer.
Será verdade? A guerra terá mesmo começado? Custa-me a acreditar. Os vizinhos assustados acabam de sair das casas. Juntaram-se no largo defronte da varanda da minha residência. Estão alvoraçados, discutem em uníssono e ninguém se entende.
Cuidado, máximo cuidado, há silêncio a mais, temos de redobrar a atenção. Vamos ser atacados, pressinto a presença do inimigo. O terreno é propício para uma emboscada. Está de certeza escondido nas proximidades, por detrás dos pedregulhos e das árvores.
Continua a chover sem cessar. O objectivo a destruir está localizado acolá, no planalto, a ser alcançado após ultrapassarmos a elevação do terreno. Por não vislumbrar outra alternativa, desviando o olhar com um ligeiro movimento da cabeça, dou ordem para avançar. No dia anterior, com aerograma datado de Outubro de 1965, tinha escrito a uma das minhas madrinhas de guerra dizendo-lhe que, de madrugada, iríamos iniciar uma perigosa operação na serra de Uíge, no Norte de Angola.
Quando, vindo de Goa, desembarco em Lisboa no dia 29 de Fevereiro de 2020, prevejo, brevemente, mudanças profundas na sociedade portuguesa. O previsível aconteceu e, a partir de 3 de Abril, o Presidente da República declara o estado de emergência com fundamento na verificação de calamidade pública. Em consequência, estou proibido de sair da casa a não ser para comprar bens alimentares ou ir à farmácia.
Dizem-me que devido à minha provecta idade faço parte do grupo de risco e que o inimigo me escolheu como alvo preferencial. Quando pergunto de quem se trata e onde se encontra, respondem-me afiançando ser um tal de nome Covid-19, invisível a olho nu, que pode estar em toda a parte. Avisam-me: ao mínimo descuido, pode entrar em tua casa, transportado, sem o saber, por familiar, amigo ou desconhecido, e atacar-te de forma inteligente, a ponto de ignorares a sua presença.
A guerra tinha começado antes do nascer da aurora. Tropas indianas avançavam a bom ritmo, apesar de encontrarem algumas pontes destruídas. Procuravam não abrir fogo contra posições ocupadas pelos portugueses. Senhores do espaço aéreo, com clara superioridade em homens e material bélico, obrigavam os defensores a recuar bombardeando nas proximidades e intimando os soldados com voos rasantes de caças de combate.
O soldado que avançava à minha frente, cumprindo ordens, pára bruscamente, pois pareceu-lhe ter visto ou ouvido algo de estranho. Não dispara por não querer denunciar a sua posição ou desejar surpreender o inimigo. Na sua retaguarda, a metro e meio de distância, estanco o pé esquerdo e firmo o direito, com o dedo indicador resolutamente posicionado no gatilho da espingarda G3. Observo à minha frente, só vejo árvores e densa vegetação, perscruto dos lados, tentando furar com os olhos o emaranhado das folhas e troncos entrelaçados, para descobrir algum vulto escondido.
Saio?
Não, pois podes dar um passo em falso e antecipar a tua morte. Pela tua saúde, o melhor é permaneceres onde estás. O inimigo está lá fora à tua espera. Por favor, sê responsável, fica em casa, não saias.
Passaram mais de vinte dias desde que chegaste de Goa. Se continuas a desfrutar de boa saúde é porque ainda não foste contaminado. Tem paciência, aguenta-te, conserva-te em casa.
De Betim olhava para a cidade de Pangim. Prudentemente, os carros não circulavam e a maioria das pessoas tinha recolhido para localidades do interior. O palácio de Hidalcão, antiga residência dos vice-reis, parecia um fantasma plantado na margem esquerda da foz do rio Mandovi. Em poucas horas a população tinha fugido, transportando pertences mais importantes. Sem directrizes nem instruções, cada qual procurava encontrar a melhor solução para proteger a sua vida. Umas quantas pessoas ainda permaneciam recolhidas nas suas casas, outras procuravam refúgio junto dos familiares mais bem informados. A capital, sem vivalma nas ruas, cumpria um recolher obrigatório sem ninguém o ter ordenado.
De bicicleta, acompanhado de um amigo, pedalei pressuroso até chegar a um monte para assistir ao combate naval, sem sucesso, do aviso (1) “Afonso de Albuquerque” contra vasos de guerra inimigos.
Sem meios de comunicação, dotado de material de guerra obsoleto, o exército português, que recebera ordens de Salazar para resistir até à morte, de recuo em recuo, fica confinado em Mormugão. Ansioso, de coração nas mãos, a milhares de quilómetros dos familiares, em sofrimento permanente, aguarda a decisão dos vencedores.
Apesar de continuar a chover incessantemente, transpiro sem cessar. Stressado, aguardo o inevitável. Já não era a primeira vez que isso acontecia. Havia sempre o antes e o depois. Antes de soar o primeiro tiro, as fracções de segundo representavam uma eternidade. Com corpo tenso e concentração no limite, era necessário continuar a avançar. Cada passo em frente representava a aproximação do encontro com a morte. Ninguém adivinhava quem seria o escolhido. Podia ser o soldado que ia à minha frente, podia ser eu ou qualquer outro camarada da retaguarda, tudo dependia da escolha feita pelo inimigo invisível. Naquele momento de suspense, a minha vida, a nossa vida, deixara de estar nas nossas mãos. Alguém, que eu desconhecia e também não me conhecia, podia decidir se eu, ou outro camarada, devia viver ou morrer, era só premir o gatilho e acertar com precisão no alvo escolhido.
Já chateia, estou saturado e farto de ser prisioneiro dentro da minha própria casa. Decidi, está decidido, vou sair. Despeço-me da minha mulher, como quem aceita o desafio de arriscar a vida no itinerário da caminhada da incerteza. Precavido, em vez de apanhar o elevador, desço pelas escadas. Na rua, começo a respirar ar puro. Tomo a direcção da mata de Monsanto, são escassos cinco minutos a pé. Embrenho-me no interior e, respeitando o distanciamento físico recomendado, cruzo-me com algumas pessoas, umas com, outras sem máscaras. Se no passado nos cumprimentávamos, mesmo desconhecendo-nos, no presente, os caminhantes e os corredores afastam-se e desviam o olhar, como se os olhos projectassem a doença. Enquanto prossigo, recordo com satisfação que os cientistas trabalhavam afanosamente para descobrir a vacina contra o Covid-19. Sorrio e digo para mim: aproxima-se o teu fim, grande malandro, já vais ver, é só uma questão de tempo.
Distanciado da casa, subitamente apanho um susto de morrer. Recordo-me de ter posto a mão direita no corrimão, ao descer as escadas. Durante o percurso pela mata, por mais de uma vez passara a mesma mão pela cara, colocando-a na boca e nariz. Estou perdido, posso estar infectado!
Nas três situações descritas, tão distanciadas no tempo, com intervenção de agressores e agredidos, incluindo o próprio vírus, há uma sensação prevalecente entre os participantes, cujo nome, de quatro caracteres, todos conhecem. Trata-se do elo de ligação, tenebroso e extremamente contagioso, mais perigoso do que o próprio vírus: o medo.
(Valentino Viegas não segue o Acordo Ortográfico de 1990)
(1) Tipo de navio de guerra


Texto de Vasco Pinto Leite (Portugal)
O Príncipe das Trevas
em contra-Luz
Enfrentou o Deus Omnipotente
e virou mesmo serpente
para convencer o cliente
que o rancor também é celestial,
quando é apenas bestial e viral
O Príncipe das Trevas
na sombra do que seduz
Acena aos seus, os orgulhosos,
não apenas os poderosos,
gananciosos, os egos dolosos,
a todos, com raça só de animal,
o veneno que é transversal e letal
O Príncipe das Trevas
nos escombros da sua luz
Sem tréguas!
Ri-se da estupidez:
na coroa dos vivos a dos mortos introduz;
E da pequenez
a que, na pandemia da altivez,
a coroa de um vírus nos reduz.
...No Planeta
No Planeta vergado a fechar-se,
sentar-se e sentenciar-se...
Sem intuir como prosseguir,
nada pode programar-se,
nem a prazo nem a curto,
com o vírus a evoluir no surto!
Deixou de haver o tempo neste tormento!
Tudo irá colapsar,
a individual ironia, a megalomania, a hipocrisia,
a sociologia, a economia, a global ideologia…
Até a porcaria!
Da morte e da desordem
sairá o norte de uma nova ordem.
Na Barca do Inferno vamos!
E lembramos o nosso Gil Vicente,
que até fazia rir a gente.
Mas, a brincar a brincar,
ele sabia o sério que dizia...
a quem se não arrependia!
Tudo muda num repente!
Agarremos a poética via
que nunca irá ao fundo,
à espera ainda, talvez, da nossa vez,
se tal guia encontrar o mundo.
Derrubámos já inimigo tão fogoso
– E não tão silencioso –
Cremaremos os cornos do Fausto
nos demais fornos de holocausto!


Texto de Viviane de Santana Paulo (Brasil):
um metro e meio
o que fazer com esta distância
quando éramos união
um metro e meio e não mais posso
abraçar-te beijar-te e minhas
palavras não te alcançam nem minhas mãos
quando antes possuíamos
a proximidade e a distância
que iam e vinham constantes
e traziam sal e espumas e alternância
quando antes íamos e vínhamos
por todos os lugares e direções
agora o mundo parou
porque nossa fragilidade é maior
do que o nosso egoísmo e a nossa ganância
do que nossa insensatez e nossas ambições
corremos o risco de não mais respirar
e necessitamos de ar puro ar puro ar
este ar que está onipresente e dentro de nós
este ar que poluímos
esta natureza que maltratamos
o mundo parou porque somos
mais frágeis do que acreditamos
e fizemo-nos tão dependentes do material
como se fôssemos de metais
e não orgânicos
como se fôssemos imortais
e não efeméricos
o mundo parou
e ter-te nos meus braços
não posso mais como dois animais
que também somos entrelaçados
nos sonhos
um metro e meio
e meus pensamentos desatam-se
na busca de razões e soluções
e a saudade cresce e chamo
quando nos tocarmos há de levar-nos
de novo ao humano


Texto de Zetho Cunha Gonçalves (Angola):
Entre uma estrela e outra,
há agora uma vírgula.
A noite trabalha seus dons, suas luas,
seus ofícios milenares
− prodígio primaveril das árvores, pela manhã.
Saber não fazer nada é um desconhecido privilégio
− a Vida que se não viveu, agora
defronte do pelotão de fuzilamento.
Assassino impotente e acossado
− o olhar torna-se um canibal em pânico.
O terror, meticulosamente ministrado, imbeciliza
− a pobre cabeça luminar do impante idiota
explode em pareceres científicos irrefutáveis.
O hipocondríaco é agora o ser mais feliz à face da catástrofe
− demite-se de toda a função
para que foi temporariamente indigitado.
●
Vejo cabeças como nitreiras a transbordar
− eu sabia que eram muitas,
nunca imaginei que fossem tantas!
A boçalidade instaura seus dogmas, crava seus tentáculos
− Deus rebelde ao Criador.
Para que servem dinheiro e poder
− nas mãos da indigência?
A cobra desfaz-se da pele
− não deixa de ser serpente, não perde o seu veneno letal.
●
É tão fácil matar,
é tão fácil criar, provocar, esbanjar a Morte
− quando se viveu e brincou nunca a infância, e se odeia a Vida!
Um centímetro cúbico de ar pode ser o Norte magnético
− quem comprará a Morte, senhores do mando,
quem comprará a Morte, em seu trono deslocada?
Roubem-nos tudo
− mas não roubem os nossos Mortos!

